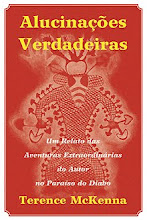[excerto de artigo]
(…) O que os vídeojogos sugerem é que praticamente tudo pode ser tornado mais atraente através da aplicação de princípios de gaming. Isto causa consternação entre aqueles que acreditam que os jogos acarretam adicção, violência e irresponsabilidade social. Diversão e jogo têm sido, no decurso dos últimos séculos, palavras conservadas dentro de uma caixa hermeticamente isolada do trabalho e da responsabilidade adulta. Quer gostemos ou não, isso está agora a mudar. E, pese embora toda a conversa sobre adicção e dependência, o crescimento maciço de jogos sociais sugere que a maior parte dos catastrofistas estão errados. Não devíamos precocupar-nos com os jogadores serem sugados da vida real para fora, entrando num domínio de satisfações irreais. Ao invés, devíamos olhar para a infiltração gradual do gaming nas nossas vidas — nas formas como socializamos, como nos exprimimos e, cada vez mais, como pensamos em tudo desde o trabalho e a educação até à guerra. Entender este mundo etéreo de bens virtuais e alianças transnacionais é um desafio muito maior do que andar à caça de bichos-papão.
A transição entre acções reais e virtuais está já bem avançada em alguns campos. Como o politólogo Peter Singer descreve no seu livro Wired for War, as forças armadas americanas gastam agora 6 mil milhões de dólares por ano em exercícios de treino virtuais e simulados. Nem todos são vídeojogos num sentido estrito, mas os seus cenários interactivos enraizam-se firmemente no mundo do gaming, onde a aprendizagem ocorre em tempo real em resposta a cenários que parecem espantosamente realistas. Um desses jogos, America’s Army, foi tão bem sucedido na criação de experiências militares imersivas que tem um duplo papel como instrumento de treino e recrutamento. A versão civil foi agora descarregada mais de dez milhões de vezes. Será que tais jogos glamorizam a guerra para aqueles que se encontram longe do combate real, ou dessensibilizam aqueles que combatem em relação às realidades incómodas que estão a ter lugar no terreno? Dado o uso crescente da guerra remota, a resposta é quase decerto um "sim" qualificado. Estes são problemas de um mundo que é diferente do gaming social, e todavia algumas das questões perturbantes que levantam, sobre como as interacções remotas tanto podem aproximar-nos como afastar-nos, são comuns para o nosso futuro. (…)
— Tom Chatfield , in "All the world is play", publicado em Prospect Magazine
17 de janeiro de 2010
"Salvem os Nossos Pássaros" (Margaret Atwood)
[excerto de artigo]
(…) Eis algumas estatísticas: Nos Estados Unidos, as linhas eléctricas matam entre 130 e 174 milhões de pássaros por ano — muitos deles aves de rapina como falcões, ou aves aquáticas cuja envergadura de asas pode tocar em dois cabos quentes ao mesmo tempo, resultando em electrocução, ou que se chocam contra as linhas elécricas finas sem as ver (pense-se em cordas de piano). Automóveis e camiões colidem com pássaros e matam entre 60 a 80 milhões anualmente nos Estados Unidos, e os edifícios altos — em especial aqueles que deixam as luzes ligadas à noite — são um perigo muito grande para os pássaros migratórios, levando a cerca de entre cem e mil milhões de mortes de pássaros anualmente. Acrescentem-se as torres de comunicação iluminadas, que matam também um grande número de morcegos, cada uma podendo ser responsável por tantas quantas 30.000 mortes de pássaros numa noite má — temos pois 40 a 50 milhões de mortes por ano, e destinadas a duplicar à medida que são construídas mais torres. Os pesticidas agrícolas matam directamente 67 milhões de pássaros por ano, com muito mais mortes resultando de toxinas acumuladas que convergem no topo da cadeia alimentar, e da fome, à medida que desaparece o alimento normal dos insectívoros. Os gatos dão cabo de cerca de 39 milhões de pássaros apenas no estado de Wisconsin; multiplique-se isso pelo número de estados da América, e façam-se então os cálculos para o resto do mundo: os números são astronómicos. Há então os efluentes das fábricas, os derramamentos de petróleo no mar e nas praias, os compostos químicos desconhecidos que estamos a deitar na mistura. A natureza é prolífica, mas não está a conseguir acompanhar tais níveis de mortandade, e as espécies de aves — até mesmo espécies outrora comuns — estão a cair a pique em todo o mundo.
Mais uma estatística: segundo Al Gore, 97% dos donativos beneficentes vão para causas humanas. Dos restantes 3%, metade vão para animais de estimação. Isto deixa 1½% dedicado ao resto da natureza — incluindo os oceanos assoberbados de crises, a terra sofrendo de erosão, seca ou inundações, e a biosfera em retracção da qual dependem as nossas vidas. Quão loucos somos? Parecemo-nos muito com aqueles desenhos animados antigos nos quais a personagem tolinha está a cortar o mesmo ramo da árvore no qual se senta, enquanto por baixo dela está uma queda a pique sem fundo. Faz-nos querer enfiar a cabeça na areia, tal como — aparentemente — faz toda a gente, e limitarmo-nos a comer muito, ver filmes antigos do tempo antes de as coisas se terem tornado tão assustadoras, e ir às compras. Ou, como James Lovelock continua a avisar-nos: aproveitem a coisa enquanto puderem, o que quer que seja "a coisa", pois ela não irá durar muito mais tempo. (…)
— Margaret Atwood, in "Act now to save our birds", publicado em The Guardian
(…) Eis algumas estatísticas: Nos Estados Unidos, as linhas eléctricas matam entre 130 e 174 milhões de pássaros por ano — muitos deles aves de rapina como falcões, ou aves aquáticas cuja envergadura de asas pode tocar em dois cabos quentes ao mesmo tempo, resultando em electrocução, ou que se chocam contra as linhas elécricas finas sem as ver (pense-se em cordas de piano). Automóveis e camiões colidem com pássaros e matam entre 60 a 80 milhões anualmente nos Estados Unidos, e os edifícios altos — em especial aqueles que deixam as luzes ligadas à noite — são um perigo muito grande para os pássaros migratórios, levando a cerca de entre cem e mil milhões de mortes de pássaros anualmente. Acrescentem-se as torres de comunicação iluminadas, que matam também um grande número de morcegos, cada uma podendo ser responsável por tantas quantas 30.000 mortes de pássaros numa noite má — temos pois 40 a 50 milhões de mortes por ano, e destinadas a duplicar à medida que são construídas mais torres. Os pesticidas agrícolas matam directamente 67 milhões de pássaros por ano, com muito mais mortes resultando de toxinas acumuladas que convergem no topo da cadeia alimentar, e da fome, à medida que desaparece o alimento normal dos insectívoros. Os gatos dão cabo de cerca de 39 milhões de pássaros apenas no estado de Wisconsin; multiplique-se isso pelo número de estados da América, e façam-se então os cálculos para o resto do mundo: os números são astronómicos. Há então os efluentes das fábricas, os derramamentos de petróleo no mar e nas praias, os compostos químicos desconhecidos que estamos a deitar na mistura. A natureza é prolífica, mas não está a conseguir acompanhar tais níveis de mortandade, e as espécies de aves — até mesmo espécies outrora comuns — estão a cair a pique em todo o mundo.
Mais uma estatística: segundo Al Gore, 97% dos donativos beneficentes vão para causas humanas. Dos restantes 3%, metade vão para animais de estimação. Isto deixa 1½% dedicado ao resto da natureza — incluindo os oceanos assoberbados de crises, a terra sofrendo de erosão, seca ou inundações, e a biosfera em retracção da qual dependem as nossas vidas. Quão loucos somos? Parecemo-nos muito com aqueles desenhos animados antigos nos quais a personagem tolinha está a cortar o mesmo ramo da árvore no qual se senta, enquanto por baixo dela está uma queda a pique sem fundo. Faz-nos querer enfiar a cabeça na areia, tal como — aparentemente — faz toda a gente, e limitarmo-nos a comer muito, ver filmes antigos do tempo antes de as coisas se terem tornado tão assustadoras, e ir às compras. Ou, como James Lovelock continua a avisar-nos: aproveitem a coisa enquanto puderem, o que quer que seja "a coisa", pois ela não irá durar muito mais tempo. (…)
— Margaret Atwood, in "Act now to save our birds", publicado em The Guardian
Etiquetas:
ambiente,
aves,
margaret atwood,
pássaros
16 de janeiro de 2010
"Como a Marijuana Se Tornou Legal"
[excerto de artigo]
(…) existe uma percepção de que após 40 anos de sangue, suor e lágrimas, a guerra contra as drogas — formalmente declarada pelo Presidente Richard Nixon em 1969, um mês antes do festival de Woodstock — fracassou em impedir a disponibilidade de drogas ilegais, enriqueceu quadrilhas de crime organizado e tornou-as poderosas, e sujeitou à prisão milhões de pessoas que pouco perigo constituem para alguém à excepção delas próprias.
Ainda por cima, estamos agora mergulhados no pior ambiente económico desde a Grande Depressão, o que torna a perspectiva de cobrar impostos sobre as vendas de marijuana tão atreantes para os políticos contemporâneos como a cerveja, o vinho e os impostos sobre o álcool pareciam ao Presidente Franklin Delano Roosevelt e ao seu partido quando tomaram posse em 1933, o ano em que a Proibição [do álcool] foi revogada.
Assumindo a existência de um mercado nacional de consumo para a marijuana valendo cerca de 13 mil milhões de dólares anualmente, o economista de Harvard Jeffrey Miron estimou que poderia esperar-se que a legalização arrecadasse anualmente aos governos estaduais e federais cerca de 7 mil milhões de dólares em rendimentos fiscais adicionais, ao mesmo tempo que lhes pouparia 13,5 mil milhões em custos relacionados com a imposição da proibição.
Na Califórnia, onde a crise fiscal é tão grave que o estado teve de emitir aos seus fornecedores mais de mil milhões de dólares de promissórias, uma sondagem publicada em Abril mostrava que 56% da população do estado favorecia a legalização da marijuana, levando o governador Arnold Schwarzenegger a solicitar um "debate aberto" sobre a questão. Uma proposta de legalização foi apresentada á legislatura do estado, e a comissão estatal de equalização estimou que, caso ela seja aprovada, acarretaria 1,4 mil milhões em novos rendimentos, uma estimativa aparentemente conservadora.
É mesmo possível que a legalização reduzisse os gastos do país com a saúde, aliviando a procura de produtos farmacêuticos dispendiosos.
No número mais recente da O'Shaughnessy [a revista do California Cannabis Research Medical Group], um médico informou que os seus pacientes que usam cannabis tinham terminado ou reduzido o seu uso de "analgésicos de todos os tipos, [incluindo] Tylenol, aspirina e opiáceos; agentes psicoterapêuticos incluindo medicações anti-ansiedade, agentes antidepressivos, antipânico, antipsicóticos e para pacientes obsessivos-compulsivos e bipolares; agentes gastrointestinais incluindo medicamentos anti-espasmódicos e anti-inflamatórios; preparações para a dor de cabeça; anticonvulsantes; estimuladores do apetite; imunomoduladores e imunodepressivos; relaxantes musculares; medicações de gestão da esclerose múltipla; preparações oftálmicas; agentes sedativos e hipnóticos; e agentes para o síndroma de Tourette".
"A marijuana médica é a piadinha que Deus fez à custa dos proibicionistas [da marijuana]," diz Richard Cowan, de 69 anos, um activista de longa data da legalização que afirma ter fumado todos os dias desde 1967. "Há claramente uma necessidade médica, e ela vai desde o insignificante até ao que salva vidas.... Da minha perspectiva, a linha divisória entre o medicinal e o não-medicinal não devia ser decidida pela polícia. (…)
— Roger Parloff, in "How marijuana became legal", publicado em Fortune
(…) existe uma percepção de que após 40 anos de sangue, suor e lágrimas, a guerra contra as drogas — formalmente declarada pelo Presidente Richard Nixon em 1969, um mês antes do festival de Woodstock — fracassou em impedir a disponibilidade de drogas ilegais, enriqueceu quadrilhas de crime organizado e tornou-as poderosas, e sujeitou à prisão milhões de pessoas que pouco perigo constituem para alguém à excepção delas próprias.
Ainda por cima, estamos agora mergulhados no pior ambiente económico desde a Grande Depressão, o que torna a perspectiva de cobrar impostos sobre as vendas de marijuana tão atreantes para os políticos contemporâneos como a cerveja, o vinho e os impostos sobre o álcool pareciam ao Presidente Franklin Delano Roosevelt e ao seu partido quando tomaram posse em 1933, o ano em que a Proibição [do álcool] foi revogada.
Assumindo a existência de um mercado nacional de consumo para a marijuana valendo cerca de 13 mil milhões de dólares anualmente, o economista de Harvard Jeffrey Miron estimou que poderia esperar-se que a legalização arrecadasse anualmente aos governos estaduais e federais cerca de 7 mil milhões de dólares em rendimentos fiscais adicionais, ao mesmo tempo que lhes pouparia 13,5 mil milhões em custos relacionados com a imposição da proibição.
Na Califórnia, onde a crise fiscal é tão grave que o estado teve de emitir aos seus fornecedores mais de mil milhões de dólares de promissórias, uma sondagem publicada em Abril mostrava que 56% da população do estado favorecia a legalização da marijuana, levando o governador Arnold Schwarzenegger a solicitar um "debate aberto" sobre a questão. Uma proposta de legalização foi apresentada á legislatura do estado, e a comissão estatal de equalização estimou que, caso ela seja aprovada, acarretaria 1,4 mil milhões em novos rendimentos, uma estimativa aparentemente conservadora.
É mesmo possível que a legalização reduzisse os gastos do país com a saúde, aliviando a procura de produtos farmacêuticos dispendiosos.
No número mais recente da O'Shaughnessy [a revista do California Cannabis Research Medical Group], um médico informou que os seus pacientes que usam cannabis tinham terminado ou reduzido o seu uso de "analgésicos de todos os tipos, [incluindo] Tylenol, aspirina e opiáceos; agentes psicoterapêuticos incluindo medicações anti-ansiedade, agentes antidepressivos, antipânico, antipsicóticos e para pacientes obsessivos-compulsivos e bipolares; agentes gastrointestinais incluindo medicamentos anti-espasmódicos e anti-inflamatórios; preparações para a dor de cabeça; anticonvulsantes; estimuladores do apetite; imunomoduladores e imunodepressivos; relaxantes musculares; medicações de gestão da esclerose múltipla; preparações oftálmicas; agentes sedativos e hipnóticos; e agentes para o síndroma de Tourette".
"A marijuana médica é a piadinha que Deus fez à custa dos proibicionistas [da marijuana]," diz Richard Cowan, de 69 anos, um activista de longa data da legalização que afirma ter fumado todos os dias desde 1967. "Há claramente uma necessidade médica, e ela vai desde o insignificante até ao que salva vidas.... Da minha perspectiva, a linha divisória entre o medicinal e o não-medicinal não devia ser decidida pela polícia. (…)
— Roger Parloff, in "How marijuana became legal", publicado em Fortune
15 de janeiro de 2010
"Loucos Como Nós"
[post]
No final dos anos 90, a farmacêutica GlaxoSmithKline queria introduzir o Paxil, o seu antidepressivo campeão de vendas, no Japão, onde um temperamento nacional taciturno, uma elevada taxa de suicídio e problemas económicos persistentes pareciam compôr um mercado perfeito. Mas a ideia que tornara os antidepressivos tão lucrativos aqui [nos EUA] — que a depressão é uma doença crónica e disseminada — era largamente desconhecida no Japão. O gigante farmacêutico pôs a trabalhar os seus melhores cérebros do marketing, e o resultado foi o kokoro no kaze, "um frio da alma,", uma doença cerebral vulgar que, de acordo com os anúncios, nos pode matar caso não seja tratada. Em 2008, os japoneses estavam a gastar mil milhões de dólares por ano em Paxil.
A comercialização da depressão no Japão é uma das quatro histórias sobre a exportação de doenças mentais que Ethan Watters conta no seu interessante novo livro [Crazy Like Us]. Num estilo jornalístico escorreito, argumenta que aquilo que a indústria psiquiátrica americana exporta não é tanto medicamentos como doenças. É uma estratégia tornada possível pelo Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais [MDEDM], da Associação Psiquiátrica Americana [APA], o qual enumera os sintomas constituindo as diversas perturbações mentais que, segundo o Instituto Nacional de Saúde, afectarão 30 por cento dos americanos durante as suas vidas. À medida que a aproximação estandartizada das listagens do MDE se espalha pelo mundo, diz Watters, não apenas muda a forma como os psiquiatras processam os diagnósticos, mas também a maneira como as pessoas sentem e exprimem o seu sofrimento psicológico.
Watters leva-nos a Zanzibar, onde a "possessão por espíritos" está a ser substituída pela esquizofrenia, e ao Sri Lanka, onde a PPST [Perturbação Pós-Stress Traumático] foi espalhada como um vírus por conselheiros de trauma ocidentais que disseram aos sobreviventes do tsunami exactamente como deviam reagir ao rescaldo de um desastre. Em cada uma das suas histórias, Watters descreve vividamente a maneira como esta espécie de promoção de doenças promulga uma "metafísica universal da experiência emocional" — e, por extensão, da natureza humana. Isto leva a uma ironia profunda e perturbadora: ao substituir crenças locais válidas sobre a identidade e a cura pelo eu hiperindividualizado que a APA considera mentalmente saudável, "estamos a acelerar as mudanças desorientadoras… que se encontram no âmago de grande parte dos problemas mentais do mundo".
— Gary Greenberg, in "Crazy Like Us", publicado em Mother Jones
No final dos anos 90, a farmacêutica GlaxoSmithKline queria introduzir o Paxil, o seu antidepressivo campeão de vendas, no Japão, onde um temperamento nacional taciturno, uma elevada taxa de suicídio e problemas económicos persistentes pareciam compôr um mercado perfeito. Mas a ideia que tornara os antidepressivos tão lucrativos aqui [nos EUA] — que a depressão é uma doença crónica e disseminada — era largamente desconhecida no Japão. O gigante farmacêutico pôs a trabalhar os seus melhores cérebros do marketing, e o resultado foi o kokoro no kaze, "um frio da alma,", uma doença cerebral vulgar que, de acordo com os anúncios, nos pode matar caso não seja tratada. Em 2008, os japoneses estavam a gastar mil milhões de dólares por ano em Paxil.
A comercialização da depressão no Japão é uma das quatro histórias sobre a exportação de doenças mentais que Ethan Watters conta no seu interessante novo livro [Crazy Like Us]. Num estilo jornalístico escorreito, argumenta que aquilo que a indústria psiquiátrica americana exporta não é tanto medicamentos como doenças. É uma estratégia tornada possível pelo Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais [MDEDM], da Associação Psiquiátrica Americana [APA], o qual enumera os sintomas constituindo as diversas perturbações mentais que, segundo o Instituto Nacional de Saúde, afectarão 30 por cento dos americanos durante as suas vidas. À medida que a aproximação estandartizada das listagens do MDE se espalha pelo mundo, diz Watters, não apenas muda a forma como os psiquiatras processam os diagnósticos, mas também a maneira como as pessoas sentem e exprimem o seu sofrimento psicológico.
Watters leva-nos a Zanzibar, onde a "possessão por espíritos" está a ser substituída pela esquizofrenia, e ao Sri Lanka, onde a PPST [Perturbação Pós-Stress Traumático] foi espalhada como um vírus por conselheiros de trauma ocidentais que disseram aos sobreviventes do tsunami exactamente como deviam reagir ao rescaldo de um desastre. Em cada uma das suas histórias, Watters descreve vividamente a maneira como esta espécie de promoção de doenças promulga uma "metafísica universal da experiência emocional" — e, por extensão, da natureza humana. Isto leva a uma ironia profunda e perturbadora: ao substituir crenças locais válidas sobre a identidade e a cura pelo eu hiperindividualizado que a APA considera mentalmente saudável, "estamos a acelerar as mudanças desorientadoras… que se encontram no âmago de grande parte dos problemas mentais do mundo".
— Gary Greenberg, in "Crazy Like Us", publicado em Mother Jones
Etiquetas:
farmacêuticas,
marketing,
psiquiatria
"Proíba-se o Divórcio"
[excerto de notícia]
Até que a morte nos separe? Este voto passará de facto a ser válido na Califórnia caso um web designer de Sacramento consiga os seus intentos.
Num movimento que parece arrancado às páginas de argumentistas do Canal da Comédia, John Marcotte quer levar a votos no próximo ano [2010] uma proposta para proibir o divórcio na Califórnia.
A iniciativa pretende ser um comentário satírico após os votantes californianos terem proibido o casamento gay em 2008, em grande medida com a argumentação de que que é necessária uma proibição para proteger a santidade do casamento tradicional. Se for esse o caso, raciocina Marcotte, então os votantes não deveriam ter problemas em proibir o divórcio.
"Dado que a Califórnia decidiu proteger o casamento tradicional, acho que seria hipócrita não sacrificarmos alguns dos nossos direitos para proteger ainda mais o casamento tradicional," disse Marotte, de 38 anos, casado e pai de dois filhos.
Marcotte disse que recolheu dúzias de assinaturas, incluindo uma da sua mulher, com quem está casado há sete anos. Os número de fãs Facebook da iniciativa atingiu mais de 11.000. Voluntários, incluindo activistas gay e uma trupe de comediantes locais, subscreveram a proposta comprometendo-se a ajudar. (…)
Marcotte precisa de arranjar 694.354 assinaturas válidas até 22 de Março, um grande obstáculo num estado onde uma simples campanha de petição custa milhões de dólares. Ainda que a emenda constitucional que propõe entrasse para o sufrágio do próximo ano, não é claro como os votantes reagiriam.
Em todo o país, cerca de metade de todos os casamentos acabam em divórcio.
— Judy Lin, in "Movement under way in California to ban divorce", publicado em San Francisco Chronicle
Até que a morte nos separe? Este voto passará de facto a ser válido na Califórnia caso um web designer de Sacramento consiga os seus intentos.
Num movimento que parece arrancado às páginas de argumentistas do Canal da Comédia, John Marcotte quer levar a votos no próximo ano [2010] uma proposta para proibir o divórcio na Califórnia.
A iniciativa pretende ser um comentário satírico após os votantes californianos terem proibido o casamento gay em 2008, em grande medida com a argumentação de que que é necessária uma proibição para proteger a santidade do casamento tradicional. Se for esse o caso, raciocina Marcotte, então os votantes não deveriam ter problemas em proibir o divórcio.
"Dado que a Califórnia decidiu proteger o casamento tradicional, acho que seria hipócrita não sacrificarmos alguns dos nossos direitos para proteger ainda mais o casamento tradicional," disse Marotte, de 38 anos, casado e pai de dois filhos.
Marcotte disse que recolheu dúzias de assinaturas, incluindo uma da sua mulher, com quem está casado há sete anos. Os número de fãs Facebook da iniciativa atingiu mais de 11.000. Voluntários, incluindo activistas gay e uma trupe de comediantes locais, subscreveram a proposta comprometendo-se a ajudar. (…)
Marcotte precisa de arranjar 694.354 assinaturas válidas até 22 de Março, um grande obstáculo num estado onde uma simples campanha de petição custa milhões de dólares. Ainda que a emenda constitucional que propõe entrasse para o sufrágio do próximo ano, não é claro como os votantes reagiriam.
Em todo o país, cerca de metade de todos os casamentos acabam em divórcio.
— Judy Lin, in "Movement under way in California to ban divorce", publicado em San Francisco Chronicle
14 de janeiro de 2010
"Como a Evolução Está a Evoluir"
[excerto de artigo]
A ciência convencional sustenta que os seres humanos deixaram de evoluir há cerca de 50.000 anos. A civilização acabou com o processo. Donde que o ser humano da era pré-moderna é o ser humano de hoje e será o ser humano amanhã, certo? Calma aí, dizem os cientistas Gregory Cochran e Henry Harpending. No livro The 10,000 Year Explosion, argumentam que na era moderna a humanidade está a evoluir ainda mais depressa. Desenvolvemos novos traços genéticos tão recentemente quanto na Idade Média. Os judeus Ashkenazi (ou europeus), por exemplo, não apenas parecem ser mais espertos; eles demonstram uma predisposição genética para a inteligência superior. (…)
Cochran e Harpending escolhem os judeus Ashkenazi enquanto exemplo claro de como decisões culturais tomadas há apenas alguns séculos (um nanossegundo na perspectiva convencional da evolução) resultaram já em novas vantagens genéticas. Antes da Idade Média, os judeus Ashkenazi viviam a meio de uma importante rota cultural que ligava a Europa a partes-chave da Ásia. Os judeus foram recipientes de uma enorme variedade genética à medida que povos antigos atravessavam o seu território, nele se estabeleciam, casavam ou apenas copulavam.
À medida que números crescentes de judeus se estabeleciam na Europa durante a Idade Média, regras culturais contra casamentos fora do grupo, ligadas a pressões sociais externas, resultaram num círculo genético relativamente fechado. Os traços cromossómicos mais úteis captados no Levante tornaram-se dominantes à medida que a diluição genética era contida. Mais importante, as condições difíceis na Europa asseguravam um forte imperativo biológico para a adaptação e a sobrevivência.
Na verdade, apesar de a maioria dos europeus ter experimentado a Idade Média como um claro melhoramento relativamente â idade das trevas precedente, os judeus europeus foram perseguidos em grande escala e, em grande medida, impedidos de possuir terra. Desenvolveram um conjunto de estratégias de sobrevivência partilhadas, que aconteceram ser idealmente adequadas para as mudanças que varriam o continente. Privados da capacidade legal de possuir grandes extensões de terra, a maioria foi relegada para cidades e aldeias. Isto deu-lhes uma partida antecipada na vida urbana. As principais ocupações disponíveis para os judeus que se estabeleciam nestes centros urbanos nascentes eram actividades de serviços requerendo literacia e capacidades aritméticas. A inteligência abstracta e as capacidades de raciocínio eram mais valorizadas no interior do grupo do que a capacidade de manejar um machado ou de puxar uma carroça. No decurso de múltiplas gerações, uma ênfase cultural no desenvolvimento de inteligência quantitativa, ao invés de força física, acentuou um traço genético particular à custa de todos os outros. O traço escolhido em questão foi a inteligência. (…)
Os judeus Ashkenazi mostram níveis ligeiramente elevados de esfingolípidos, um tipo de molécula gorda. Os esfingolípidos são comuns nos tecidos neuronais e desempenham um papel importante na transmissão de sinais. Níveis elevados desta molécula podem resultar em mais conexões interneuronais, e portanto num pouco mais de cérebro.
Os autores passam a mostrar que as pessoas com ascendência judaico-europeia, independentemente do seu ambiente familiar, têm resultados acima da média em testes do QI. Estão desproporcionadamente bem representadas nas listas de galardoados com prémios prestigiados em matemática e ciência. Embora representem menos de 3% da população dos EUA, incluem 27% dos prémios Nobel no decurso das duas últimas gerações, representam cerca de um quinto dos directores-executivos de empresas e cerca de 22% dos estudantes da Ivy League [grupo de universidades de elite americanas].
Ao abordarem esta ideia, Cochran and Harpending estão a entrar em território perigoso. O leitor com sensibilidade política provavelmente retrair-se-á perante a noção de que variações genéticas ao longo de linhas étnicas possam resultar em inteligência superior (…) Mas isto é bagagem cultural e não tem relação com os méritos científicos per se do argumento de Cochran e Harpending. (…)
— Patrick Tucker, in "How Evolution Is Evolving", publicado em The Futurist
A ciência convencional sustenta que os seres humanos deixaram de evoluir há cerca de 50.000 anos. A civilização acabou com o processo. Donde que o ser humano da era pré-moderna é o ser humano de hoje e será o ser humano amanhã, certo? Calma aí, dizem os cientistas Gregory Cochran e Henry Harpending. No livro The 10,000 Year Explosion, argumentam que na era moderna a humanidade está a evoluir ainda mais depressa. Desenvolvemos novos traços genéticos tão recentemente quanto na Idade Média. Os judeus Ashkenazi (ou europeus), por exemplo, não apenas parecem ser mais espertos; eles demonstram uma predisposição genética para a inteligência superior. (…)
Cochran e Harpending escolhem os judeus Ashkenazi enquanto exemplo claro de como decisões culturais tomadas há apenas alguns séculos (um nanossegundo na perspectiva convencional da evolução) resultaram já em novas vantagens genéticas. Antes da Idade Média, os judeus Ashkenazi viviam a meio de uma importante rota cultural que ligava a Europa a partes-chave da Ásia. Os judeus foram recipientes de uma enorme variedade genética à medida que povos antigos atravessavam o seu território, nele se estabeleciam, casavam ou apenas copulavam.
À medida que números crescentes de judeus se estabeleciam na Europa durante a Idade Média, regras culturais contra casamentos fora do grupo, ligadas a pressões sociais externas, resultaram num círculo genético relativamente fechado. Os traços cromossómicos mais úteis captados no Levante tornaram-se dominantes à medida que a diluição genética era contida. Mais importante, as condições difíceis na Europa asseguravam um forte imperativo biológico para a adaptação e a sobrevivência.
Na verdade, apesar de a maioria dos europeus ter experimentado a Idade Média como um claro melhoramento relativamente â idade das trevas precedente, os judeus europeus foram perseguidos em grande escala e, em grande medida, impedidos de possuir terra. Desenvolveram um conjunto de estratégias de sobrevivência partilhadas, que aconteceram ser idealmente adequadas para as mudanças que varriam o continente. Privados da capacidade legal de possuir grandes extensões de terra, a maioria foi relegada para cidades e aldeias. Isto deu-lhes uma partida antecipada na vida urbana. As principais ocupações disponíveis para os judeus que se estabeleciam nestes centros urbanos nascentes eram actividades de serviços requerendo literacia e capacidades aritméticas. A inteligência abstracta e as capacidades de raciocínio eram mais valorizadas no interior do grupo do que a capacidade de manejar um machado ou de puxar uma carroça. No decurso de múltiplas gerações, uma ênfase cultural no desenvolvimento de inteligência quantitativa, ao invés de força física, acentuou um traço genético particular à custa de todos os outros. O traço escolhido em questão foi a inteligência. (…)
Os judeus Ashkenazi mostram níveis ligeiramente elevados de esfingolípidos, um tipo de molécula gorda. Os esfingolípidos são comuns nos tecidos neuronais e desempenham um papel importante na transmissão de sinais. Níveis elevados desta molécula podem resultar em mais conexões interneuronais, e portanto num pouco mais de cérebro.
Os autores passam a mostrar que as pessoas com ascendência judaico-europeia, independentemente do seu ambiente familiar, têm resultados acima da média em testes do QI. Estão desproporcionadamente bem representadas nas listas de galardoados com prémios prestigiados em matemática e ciência. Embora representem menos de 3% da população dos EUA, incluem 27% dos prémios Nobel no decurso das duas últimas gerações, representam cerca de um quinto dos directores-executivos de empresas e cerca de 22% dos estudantes da Ivy League [grupo de universidades de elite americanas].
Ao abordarem esta ideia, Cochran and Harpending estão a entrar em território perigoso. O leitor com sensibilidade política provavelmente retrair-se-á perante a noção de que variações genéticas ao longo de linhas étnicas possam resultar em inteligência superior (…) Mas isto é bagagem cultural e não tem relação com os méritos científicos per se do argumento de Cochran e Harpending. (…)
— Patrick Tucker, in "How Evolution Is Evolving", publicado em The Futurist
"A Enciclopédia da Vida"
[excerto de artigo]
E.O. Wilson tem um sonho. Em 2003, o eminente biólogo de Harvard esboçou a sua visão daquilo a que chamou "uma enciclopédia electrónica da vida, acessível através de um portal único". Esta enciclopédia — essencialmente um website — concederia a cada uma das 1,8 milhões de espécies documentadas na Terra a sua página própria, apresentando um sumário detalhado de tudo quanto se sabe sobre ela: o seu nome científico, habitat, dispersão e distribuição geográfica; aquilo que come e aquilo que a come a ela; e onde se encaixa na árvore evolucionista da vida. Estaria livremente disponível para qualquer pessoa em qualquer parte, tanto cientistas como leigos.
Esse sonho está prestes a tornar-se realidade. Lançada em 2008, a Enciclopédia da Vida está agora online (www.eol.org), com 170.000 páginas de espécies, número que — dado a Enciclopédia continuar a fazer parcerias com taxonomistas, bibliotecas e bases de dados de biodiversidade — está a crescer. A sofisticada tecnologia da enciclopédia permite-lhe reunir e filtrar dados biológicos com qualquer origem, de um modo que mudará a quantidade e qualidade daquilo que tanto os cientistas como os observadores ocasionais são capazes de aprender sobre a vida na Terra, bem como a maneira como o fazem. Esqueçam a evolução, isto é uma revolução.
"O valor da enciclopédia no seu conjunto é como macroscópio, permitindo observar a imagem conjunta de centenas de milhar de espécies," diz Jesse Ausubel da Rockefeller University. Um cientista poderá comparar a duração das vidas de centenas de espécies através dos géneros taxonómicos, um tipo de estudo que actualmente é demasiado complicado e dispendioso de realizar. Outro cientista poderá usar etiquetas para determinar quais os organismos que comem, e são comidos por, outros, começando assim a formar uma imagem robusta das redes alimentares.
A Enciclopédia da Vida representa uma corrida contra o tempo. O nosso planeta está a experimentar rápidas mudanças ambientais; numerosas espécies, desde raras largartas do Havai até ursos polares árcticos, poderão muito bem estar extintos quando a enciclopédia atingir o seu objectivo de indexar as 1,8 milhões de espécies conhecidas — para não falar daquelas que ainda não estão documentadas, e que poderão contar-se por centenas de milhões. Como disse Wilson durante a sua palestra na edição de 2007 da conferência TED, uma reunião anual de mentes criativas e científicas, "O nosso conhecimento da biodiversidade é tão incompleto que estamos em risco de perder grande parte dele antes mesmo de o descobrirmos". (…)
— Alan Burdick, in "The Encyclopedia of Life", publicado em Utne Reader
E.O. Wilson tem um sonho. Em 2003, o eminente biólogo de Harvard esboçou a sua visão daquilo a que chamou "uma enciclopédia electrónica da vida, acessível através de um portal único". Esta enciclopédia — essencialmente um website — concederia a cada uma das 1,8 milhões de espécies documentadas na Terra a sua página própria, apresentando um sumário detalhado de tudo quanto se sabe sobre ela: o seu nome científico, habitat, dispersão e distribuição geográfica; aquilo que come e aquilo que a come a ela; e onde se encaixa na árvore evolucionista da vida. Estaria livremente disponível para qualquer pessoa em qualquer parte, tanto cientistas como leigos.
Esse sonho está prestes a tornar-se realidade. Lançada em 2008, a Enciclopédia da Vida está agora online (www.eol.org), com 170.000 páginas de espécies, número que — dado a Enciclopédia continuar a fazer parcerias com taxonomistas, bibliotecas e bases de dados de biodiversidade — está a crescer. A sofisticada tecnologia da enciclopédia permite-lhe reunir e filtrar dados biológicos com qualquer origem, de um modo que mudará a quantidade e qualidade daquilo que tanto os cientistas como os observadores ocasionais são capazes de aprender sobre a vida na Terra, bem como a maneira como o fazem. Esqueçam a evolução, isto é uma revolução.
"O valor da enciclopédia no seu conjunto é como macroscópio, permitindo observar a imagem conjunta de centenas de milhar de espécies," diz Jesse Ausubel da Rockefeller University. Um cientista poderá comparar a duração das vidas de centenas de espécies através dos géneros taxonómicos, um tipo de estudo que actualmente é demasiado complicado e dispendioso de realizar. Outro cientista poderá usar etiquetas para determinar quais os organismos que comem, e são comidos por, outros, começando assim a formar uma imagem robusta das redes alimentares.
A Enciclopédia da Vida representa uma corrida contra o tempo. O nosso planeta está a experimentar rápidas mudanças ambientais; numerosas espécies, desde raras largartas do Havai até ursos polares árcticos, poderão muito bem estar extintos quando a enciclopédia atingir o seu objectivo de indexar as 1,8 milhões de espécies conhecidas — para não falar daquelas que ainda não estão documentadas, e que poderão contar-se por centenas de milhões. Como disse Wilson durante a sua palestra na edição de 2007 da conferência TED, uma reunião anual de mentes criativas e científicas, "O nosso conhecimento da biodiversidade é tão incompleto que estamos em risco de perder grande parte dele antes mesmo de o descobrirmos". (…)
— Alan Burdick, in "The Encyclopedia of Life", publicado em Utne Reader
13 de janeiro de 2010
"Deus com um Milhão de Rostos"
[excerto de artigo]
Uma amiga minha, a quem chamarei Anne-Marie, fundou uma nova fé religiosa. Tal como outros sistemas de crenças ao longo dos tempos, a seita de Anne-Marie existe para lidar com as questões mais vastas da vida. Se eu lhe perguntar por que razão nascemos e o que acontece quando morremos, as suas respostas sugerem que o nosso tempo na Terra tem significado e propósito. Não importa se eu fico convencido ou não. A seita de Anne-Marie tem um membro, Anne-Marie, e é quanto basta.
Artista de profissão, Anne-Marie transformou a sua espiritualidade num acto criativo. As suas crenças são retiradas de muitas fontes, algumas antigas, outras novas. Quando Anne-Marie fala de karma e de reencarnação, ouço a influência do hinduísmo e do budismo. A sensação que tem da sacralidade de certos lugares na natureza é ao mesmo tempo tão nova como a ecologia profunda e tão antiga como o xintoísmo. É difícil dizer exactamente como se encaixa a física quântica neste quadro, mas ela diz que sim. Por baixo de tudo isto jaz o léxico ético da sua formação cristã, gasto pelo tempo mas ainda discernível, semelhante às ruínas de uma missão espanhola.
Quando lhe pergunto por que razão deixou a igreja da sua juventude, é directa. "Precisava de crenças que me dessem forças, e a religião organizada retira as forças," diz. "É falsa".
Anne-Marie é um dos muitos americanos que estão agora a cultivar formas de culto altamente pessoais. Aquilo a que os observadores chamam "espiritualidade pastiche" ou "religião à la carte" envolve a combinação de crenças diversas, ou mesmo ser-se membro de duas ou mais religiões distintas ao mesmo tempo. As variações possíveis são infindas — e, como avisam os críticos, o mesmo sucede com as hipóteses de nos perdermos pelo caminho. Ainda assim, abundam agora pelo país estes sistemas privados de crença, cada um ajustado às necessidades individuais do crente.
Há anos que os sociólogos seguem esta tendência; agora os teólogos estão a começar a perguntar-se como isto irá modelar a observância religiosa no futuro. Significará o fim das religiões com base agrária do antigo Médio Oriente e o nascimento de novas fés mais adequadas ao mundo moderno? Estará a emergir um único sistema de crença global, formado de elementos colhidos de todos os outros? O crescimento da consciência individual terá alcançado um ponto em que as antigas condutas da fé já não a comportam? Ou tudo não passa de uma reacção narcisista entre os baby boomers, ao aproximarem-se da terceira idade e da morte? (…)
— Jeremiah Creedon, in "God with a Million Faces", publicado em Utne Reader
Uma amiga minha, a quem chamarei Anne-Marie, fundou uma nova fé religiosa. Tal como outros sistemas de crenças ao longo dos tempos, a seita de Anne-Marie existe para lidar com as questões mais vastas da vida. Se eu lhe perguntar por que razão nascemos e o que acontece quando morremos, as suas respostas sugerem que o nosso tempo na Terra tem significado e propósito. Não importa se eu fico convencido ou não. A seita de Anne-Marie tem um membro, Anne-Marie, e é quanto basta.
Artista de profissão, Anne-Marie transformou a sua espiritualidade num acto criativo. As suas crenças são retiradas de muitas fontes, algumas antigas, outras novas. Quando Anne-Marie fala de karma e de reencarnação, ouço a influência do hinduísmo e do budismo. A sensação que tem da sacralidade de certos lugares na natureza é ao mesmo tempo tão nova como a ecologia profunda e tão antiga como o xintoísmo. É difícil dizer exactamente como se encaixa a física quântica neste quadro, mas ela diz que sim. Por baixo de tudo isto jaz o léxico ético da sua formação cristã, gasto pelo tempo mas ainda discernível, semelhante às ruínas de uma missão espanhola.
Quando lhe pergunto por que razão deixou a igreja da sua juventude, é directa. "Precisava de crenças que me dessem forças, e a religião organizada retira as forças," diz. "É falsa".
Anne-Marie é um dos muitos americanos que estão agora a cultivar formas de culto altamente pessoais. Aquilo a que os observadores chamam "espiritualidade pastiche" ou "religião à la carte" envolve a combinação de crenças diversas, ou mesmo ser-se membro de duas ou mais religiões distintas ao mesmo tempo. As variações possíveis são infindas — e, como avisam os críticos, o mesmo sucede com as hipóteses de nos perdermos pelo caminho. Ainda assim, abundam agora pelo país estes sistemas privados de crença, cada um ajustado às necessidades individuais do crente.
Há anos que os sociólogos seguem esta tendência; agora os teólogos estão a começar a perguntar-se como isto irá modelar a observância religiosa no futuro. Significará o fim das religiões com base agrária do antigo Médio Oriente e o nascimento de novas fés mais adequadas ao mundo moderno? Estará a emergir um único sistema de crença global, formado de elementos colhidos de todos os outros? O crescimento da consciência individual terá alcançado um ponto em que as antigas condutas da fé já não a comportam? Ou tudo não passa de uma reacção narcisista entre os baby boomers, ao aproximarem-se da terceira idade e da morte? (…)
— Jeremiah Creedon, in "God with a Million Faces", publicado em Utne Reader
"Esqueçam a Sustentabilidade, É Altura de Falar de Resiliência"
[post]
Um novo conceito está a infiltrar a conversa sobre as alterações climáticas, e tem o potencial de mudar por completo essa conversa. É altura de deixar descansar a sustentabilidade e de começar a falar em resiliência, escreve Rob Hopkins em Resurgence:
O temo "resiliência" está a parecer com frequência cada vez maior em debates sobre preocupações ambientais, e tem boas pretensões a ser de facto um conceito mais bem sucedido do que o de sustentabilidade. Acredita-se em geral que a sustentabilidade e o oxímoro que é a sua prole, o desenvolvimento sustentável, são uma resposta adequada à escala do desafio climático que enfrentamos: reduzir os inputs numa das extremidades do modelo de crescimento económico globalizado (energia, matérias-primas e por aí fora), enquanto se reduzem os outputs na outra extremidade (poluição, emissões de carbono, etc.). Porém, as respostas às alterações climáticas que não abordam o iminente, ou possivelmente já passado, pico na produção mundial de petróleo, não abordam adequadamente a natureza do desafio que enfrentamos.
O conceito de resiliência leva em conta o modo como os sistemas podem sobreviver intactos às perturbações, e Hopkins diz que esse enquadramento é crucial para as hipóteses de as comunidades sobreviverem "para além do actual turbilhão económico a que o mundo está a assistir". Um supermercado é um bom exemplo de como explicar esta nova forma de pensar, diz Hopkins:
Poderá ser possível aumentar a sua sustentabilidade e reduzir as suas emissões de carbono usando menos embalagens, colocando fotovoltaicas no telhado e instalando frigoríficos mais eficientes em termos energéticos. Porém, pensar em termos de resiliência argumentaria que o encerramento de mercearias e de redes retalhistas locais que resultou da abertura do supermercado, bem como o facto de a própria loja só conter a cada momento alimentos para dois dias — a maioria dos quais foi transportado através de grandes distâncias para lá chegar —, reduziu maciçamente a resiliência da segurança alimentar da comunidade, ao mesmo tempo que aumenta a sua vulnerabilidade ao petróleo.
— Elizabeth Ryan, in "Forget Sustainability, It's Time to Talk Resilience", publicado em Utne Reader
Um novo conceito está a infiltrar a conversa sobre as alterações climáticas, e tem o potencial de mudar por completo essa conversa. É altura de deixar descansar a sustentabilidade e de começar a falar em resiliência, escreve Rob Hopkins em Resurgence:
O temo "resiliência" está a parecer com frequência cada vez maior em debates sobre preocupações ambientais, e tem boas pretensões a ser de facto um conceito mais bem sucedido do que o de sustentabilidade. Acredita-se em geral que a sustentabilidade e o oxímoro que é a sua prole, o desenvolvimento sustentável, são uma resposta adequada à escala do desafio climático que enfrentamos: reduzir os inputs numa das extremidades do modelo de crescimento económico globalizado (energia, matérias-primas e por aí fora), enquanto se reduzem os outputs na outra extremidade (poluição, emissões de carbono, etc.). Porém, as respostas às alterações climáticas que não abordam o iminente, ou possivelmente já passado, pico na produção mundial de petróleo, não abordam adequadamente a natureza do desafio que enfrentamos.
O conceito de resiliência leva em conta o modo como os sistemas podem sobreviver intactos às perturbações, e Hopkins diz que esse enquadramento é crucial para as hipóteses de as comunidades sobreviverem "para além do actual turbilhão económico a que o mundo está a assistir". Um supermercado é um bom exemplo de como explicar esta nova forma de pensar, diz Hopkins:
Poderá ser possível aumentar a sua sustentabilidade e reduzir as suas emissões de carbono usando menos embalagens, colocando fotovoltaicas no telhado e instalando frigoríficos mais eficientes em termos energéticos. Porém, pensar em termos de resiliência argumentaria que o encerramento de mercearias e de redes retalhistas locais que resultou da abertura do supermercado, bem como o facto de a própria loja só conter a cada momento alimentos para dois dias — a maioria dos quais foi transportado através de grandes distâncias para lá chegar —, reduziu maciçamente a resiliência da segurança alimentar da comunidade, ao mesmo tempo que aumenta a sua vulnerabilidade ao petróleo.
— Elizabeth Ryan, in "Forget Sustainability, It's Time to Talk Resilience", publicado em Utne Reader
Etiquetas:
alterações climáticas,
ambiente,
resiliência,
sustentabilidade
12 de janeiro de 2010
"A Revolução Twitter"
[excerto de artigo]
(…) as manifestações que tiveram lugar nas ruas de Teerão em Novembro de 2009 não terão sido desencadeadas pelos média sociais (…). Exactamente tal como a prensa de impressão não foi a causadora exclusiva da Reforma Protestante, a origem destas manifestações em Teerão, bem como de todas as manifestações no país, encontra-se na vontade de as pessoas desafiarem o seu governo. Isto não significa, porém, que essas manifestações fossem semelhantes a todas as anteriores, excepto no uso continuado de slogans — os quais em 2009 eram notavelmente dirigidos contra a ditadura, em vez de exprimirem o tradicional sentimento "Morte à América". O aspecto principal a reter das manifestações de 2009 é que, exactamente tal como a Reforma Protestante foi moldada pela prensa de impressão, a insurreição iraniana foi e está a ser moldada pelos média sociais.
Embora rapidamente o uso dos média sociais nos protestos iranianos tenha ganho a etiqueta "Revolução Twitter", a verdadeira revolução foi o uso de telemóveis, que permitiram aos manifestantes originais transmitir as suas acções, para outros cidadãos e para o mundo alargado, com notável rapidez e urgência. Esta característica, de um público que crescentemente se reúne e se documenta de forma espontânea, é mais do que apenas um novo slogan. (…)
Porém, apesar do regime de Ahmadinejad estar claramente disposto a usar a técnica da filtragem com base em eventos, através da qual se bloqueia temporariamente a cobertura telefónica por redes móveis ou o acesso à internet — uma estratégia a que poderíamos chamar "Birmânia temporária" —, não acredito que o Irão possa tornar-se uma "Birmânia permanente". O grau de apagão informativo necessário para impedir que todas as formas de reunião pública levantem fervura estará para além das capacidades das autoridades do Irão. (…)
— Clay Shirky, in "The Twitter Revolution: more than just a slogan", publicado em Prospect Magazine
(…) as manifestações que tiveram lugar nas ruas de Teerão em Novembro de 2009 não terão sido desencadeadas pelos média sociais (…). Exactamente tal como a prensa de impressão não foi a causadora exclusiva da Reforma Protestante, a origem destas manifestações em Teerão, bem como de todas as manifestações no país, encontra-se na vontade de as pessoas desafiarem o seu governo. Isto não significa, porém, que essas manifestações fossem semelhantes a todas as anteriores, excepto no uso continuado de slogans — os quais em 2009 eram notavelmente dirigidos contra a ditadura, em vez de exprimirem o tradicional sentimento "Morte à América". O aspecto principal a reter das manifestações de 2009 é que, exactamente tal como a Reforma Protestante foi moldada pela prensa de impressão, a insurreição iraniana foi e está a ser moldada pelos média sociais.
Embora rapidamente o uso dos média sociais nos protestos iranianos tenha ganho a etiqueta "Revolução Twitter", a verdadeira revolução foi o uso de telemóveis, que permitiram aos manifestantes originais transmitir as suas acções, para outros cidadãos e para o mundo alargado, com notável rapidez e urgência. Esta característica, de um público que crescentemente se reúne e se documenta de forma espontânea, é mais do que apenas um novo slogan. (…)
Porém, apesar do regime de Ahmadinejad estar claramente disposto a usar a técnica da filtragem com base em eventos, através da qual se bloqueia temporariamente a cobertura telefónica por redes móveis ou o acesso à internet — uma estratégia a que poderíamos chamar "Birmânia temporária" —, não acredito que o Irão possa tornar-se uma "Birmânia permanente". O grau de apagão informativo necessário para impedir que todas as formas de reunião pública levantem fervura estará para além das capacidades das autoridades do Irão. (…)
— Clay Shirky, in "The Twitter Revolution: more than just a slogan", publicado em Prospect Magazine
Etiquetas:
internet,
irão,
rede social,
revolução,
twitter
"A Mente na Floresta"
[excerto de artigo]
(…) Aqueles que imaginam que os seres humanos são superiores ao resto da natureza usam muitas vezes "abraça-árvores" [tree-hugger] enquanto expressão ridicularizadora, como se sentir o encanto das árvores fosse alguma forma pervertida de sensualidade ou um remeter à nossa ancestralidade símia. Evidentemente, muitos dos que lamentam o abraçar de árvores não acreditam que temos uma ancestralidade símia; receiam pois, talvez, uma reversão ao paganismo. E podem ter um argumento válido. As religiões que começaram no Médio Oriente — o Judaísmo, o Cristianiosmo, o Islão — são todas fés do deserto, criadas por pessoas que viviam ao ar livre. O seu é um deus do céu, que seria eclipsado pela cobertura de uma floresta. Em todas as civilizações influenciadas por estas fés, abateram-se árvores não apenas com o intuito de garantir lenha para cozinhar ou construir, ou de limpar o solo para a agricultura, ou de abrir campos de visão em redor de aldeamentos onde predadores poderiam emboscar-se, mas sim para revelar os céus.
A adoração de um deus celeste sempre foi dispendiosa para o nosso planeta. As religiões que opõem o celestial ao terreno, elevando o primeiro e desprezando o segundo, estão de facto a negar que emergimos da natureza e dependemos inteiramente dela. Se pensarmos que o mundo material — tocável, comestível, escalável, sexy e cantador — é decaído, corrupto e pecaminoso, então provavelmente abusaremos dele. Provavelmente diremos que podemos muito bem abater as últimas florestas primordiais, secar os últimos pântanos, pescar os últimos atuns e bacalhaus, queimar as últimas gotas de petróleo, já que vem aí o final dos tempos, quando os poucos eleitos serão extaticamente transportados para o domínio imortal, e tudo quanto há de terreno será completamente apagado.
Mas a nossa linguagem preserva uma sabedoria contrabalançadora. Em latim, materia significa coisas, tudo quanto seja substancial, e em particular significa lenha. Materia deriva por sua vez de mater, que significa mãe. Na imaginação colectiva que deu origem a esses significados, entendia-se que as árvores eram o epítome da matéria, e entendia-se que a matéria dava vida. Talvez possamos ligar-nos a esta sabedoria recuperando outra palavra que deriva de mater — matrix, que significa útero. Em vez de falarmos sobre a "natureza" ou "o ambiente", talvez devêssemos falar da Terra como a nossa matriz, a nossa mãe, a fonte e o sustento da vida (…)
— Scott Russell Sanders, in "Mind in the Forest", publicado em Orion Magazine
(…) Aqueles que imaginam que os seres humanos são superiores ao resto da natureza usam muitas vezes "abraça-árvores" [tree-hugger] enquanto expressão ridicularizadora, como se sentir o encanto das árvores fosse alguma forma pervertida de sensualidade ou um remeter à nossa ancestralidade símia. Evidentemente, muitos dos que lamentam o abraçar de árvores não acreditam que temos uma ancestralidade símia; receiam pois, talvez, uma reversão ao paganismo. E podem ter um argumento válido. As religiões que começaram no Médio Oriente — o Judaísmo, o Cristianiosmo, o Islão — são todas fés do deserto, criadas por pessoas que viviam ao ar livre. O seu é um deus do céu, que seria eclipsado pela cobertura de uma floresta. Em todas as civilizações influenciadas por estas fés, abateram-se árvores não apenas com o intuito de garantir lenha para cozinhar ou construir, ou de limpar o solo para a agricultura, ou de abrir campos de visão em redor de aldeamentos onde predadores poderiam emboscar-se, mas sim para revelar os céus.
A adoração de um deus celeste sempre foi dispendiosa para o nosso planeta. As religiões que opõem o celestial ao terreno, elevando o primeiro e desprezando o segundo, estão de facto a negar que emergimos da natureza e dependemos inteiramente dela. Se pensarmos que o mundo material — tocável, comestível, escalável, sexy e cantador — é decaído, corrupto e pecaminoso, então provavelmente abusaremos dele. Provavelmente diremos que podemos muito bem abater as últimas florestas primordiais, secar os últimos pântanos, pescar os últimos atuns e bacalhaus, queimar as últimas gotas de petróleo, já que vem aí o final dos tempos, quando os poucos eleitos serão extaticamente transportados para o domínio imortal, e tudo quanto há de terreno será completamente apagado.
Mas a nossa linguagem preserva uma sabedoria contrabalançadora. Em latim, materia significa coisas, tudo quanto seja substancial, e em particular significa lenha. Materia deriva por sua vez de mater, que significa mãe. Na imaginação colectiva que deu origem a esses significados, entendia-se que as árvores eram o epítome da matéria, e entendia-se que a matéria dava vida. Talvez possamos ligar-nos a esta sabedoria recuperando outra palavra que deriva de mater — matrix, que significa útero. Em vez de falarmos sobre a "natureza" ou "o ambiente", talvez devêssemos falar da Terra como a nossa matriz, a nossa mãe, a fonte e o sustento da vida (…)
— Scott Russell Sanders, in "Mind in the Forest", publicado em Orion Magazine
"Louco por Carros"
[excerto de entrevista com P.J. O'Rourke]
(…) P: Incomoda-o ouvir pessoas dizerem que estamos "viciados" em automóveis?
PJO: Não me incomoda, quero estrangulá-las. Vai um pouco além do incómodo. Quero enfiá-las nos seus Prius e travar as portas. Simplesmente não sabem do que estão a falar. Os americanos conseguiram criar a vida que temos na América por terem conseguido sair das grandes cidades. Consegue imaginar Nova Iorque em Agosto antes de o automóvel ter sido inventado? Seja qual for a opinião que façamos do smog, consegue imaginar o cheiro que tinha Nova Iorque com trânsito tão intenso como hoje, mas era tudo cavalos? Consegue imaginar o fedor, as moscas, a doença de um tal lugar?
E não era apenas o ambiente urbano que combatíamos com os carros. Era a corrupção das máquinas políticas urbanas, as miseráveis escolas públicas, as dementes burocracias municipais. A razão por que vivemos nos subúrbios é termos conseguido fugir dessas coisas. E a razão por que conseguimos fugir dessas coisas — não foi o comboio. Foi o carro que nos permitiu afastar o suficiente dessas coisas para construirmos uma vida decente.
P: Acha que existe o perigo de a paixão americana pelo automóvel ser substituída por um amor pelos comboios?
PJO: Sim, o comboio tem algo de romântico. Mas tente fazer os carris chegarem a sua casa. Na altura de descarregar as compras do supermercado, a paixão pelo comboio desaparece. Tente enfiar o comboio pelo túnel drive-in de um McDonald's. É uma grande alhada.
P: Talvez só os políticos gostem dos comboios.
PJO: Por que é que os políticos gostam de comboios? Porque podem saber onde conduzem os carris. Sabem para onde vai toda a gente. É tudo uma questão de controlo. A própria política não passa de uma tentativa de alcançar poder e prestígio sem se ter mérito. Essa é a definição de política. Os políticos odeiam os carros. Sempre odiaram os carros, porque os carros libertam as pessoas. Estas não apenas ficam livres no sentido de poderem ir para onde quiserem, o que à partida incomoda os políticos, mas podem sair da circunscrição política que o político representa. (…)
— Michael C. Moynihan, in "Driven Crazy", publicado em Reason Magazine
P. J. O'Rouke é jornalista libertário, satirista e autor de 12 livros, o último dos quais, Driving Like Crazy: 30 Years of Vehicular Hell-Bending, "“celebra a América tal como ela deve ser — com um poço de petróleo em cada quintal, um Cadillac Escalade em cada garagem, e o presidente do Banco da Reserva Federal a cortar-nos a relva".
(…) P: Incomoda-o ouvir pessoas dizerem que estamos "viciados" em automóveis?
PJO: Não me incomoda, quero estrangulá-las. Vai um pouco além do incómodo. Quero enfiá-las nos seus Prius e travar as portas. Simplesmente não sabem do que estão a falar. Os americanos conseguiram criar a vida que temos na América por terem conseguido sair das grandes cidades. Consegue imaginar Nova Iorque em Agosto antes de o automóvel ter sido inventado? Seja qual for a opinião que façamos do smog, consegue imaginar o cheiro que tinha Nova Iorque com trânsito tão intenso como hoje, mas era tudo cavalos? Consegue imaginar o fedor, as moscas, a doença de um tal lugar?
E não era apenas o ambiente urbano que combatíamos com os carros. Era a corrupção das máquinas políticas urbanas, as miseráveis escolas públicas, as dementes burocracias municipais. A razão por que vivemos nos subúrbios é termos conseguido fugir dessas coisas. E a razão por que conseguimos fugir dessas coisas — não foi o comboio. Foi o carro que nos permitiu afastar o suficiente dessas coisas para construirmos uma vida decente.
P: Acha que existe o perigo de a paixão americana pelo automóvel ser substituída por um amor pelos comboios?
PJO: Sim, o comboio tem algo de romântico. Mas tente fazer os carris chegarem a sua casa. Na altura de descarregar as compras do supermercado, a paixão pelo comboio desaparece. Tente enfiar o comboio pelo túnel drive-in de um McDonald's. É uma grande alhada.
P: Talvez só os políticos gostem dos comboios.
PJO: Por que é que os políticos gostam de comboios? Porque podem saber onde conduzem os carris. Sabem para onde vai toda a gente. É tudo uma questão de controlo. A própria política não passa de uma tentativa de alcançar poder e prestígio sem se ter mérito. Essa é a definição de política. Os políticos odeiam os carros. Sempre odiaram os carros, porque os carros libertam as pessoas. Estas não apenas ficam livres no sentido de poderem ir para onde quiserem, o que à partida incomoda os políticos, mas podem sair da circunscrição política que o político representa. (…)
— Michael C. Moynihan, in "Driven Crazy", publicado em Reason Magazine
P. J. O'Rouke é jornalista libertário, satirista e autor de 12 livros, o último dos quais, Driving Like Crazy: 30 Years of Vehicular Hell-Bending, "“celebra a América tal como ela deve ser — com um poço de petróleo em cada quintal, um Cadillac Escalade em cada garagem, e o presidente do Banco da Reserva Federal a cortar-nos a relva".
11 de janeiro de 2010
"Prosperidade Secular"
[excerto de post]
De Dostoiévski até à comentadora de direita Ann Coulter, avisam-nos sobre os perigos de não acreditar em Deus. "Se não existir Deus," escreveu Dostoiévski, "tudo é permitido". Coulter atribui rotineiramente os problemas mais intratáveis da nossa sociedade ao vácuo moral do ateísmo.
Mas um corpo crescente de investigação naquilo que um sociólogo chama "o campo emergente da secularidade", está a desafiar suposições antigas sobre a relação da religião com a governância eficaz.
Numa monografia publicada no jornal online Evolutionary Psychology, o investigador independente Gregory S. Paul relata uma forte correlação entre bem-estar económico e secularidade. Em resumo, a prosperidade é mais elevada em sociedades onde se pratica menos a religião.
Usando dados existentes, Paul combinou 25 indicadores de estabilidade social e económica — coisas como crime, suicídio, uso de drogas, encarceração, desemprego, rendimento, aborto e corrupção pública — para classificar cada país usando aquilo a que chama a "escala das sociedades bem sucedidas". Classificou também os países segundo o seu grau de religiosidade, como determinado por critérios tais como frequência às igrejas, crença numa divindade criadora e aceitação do literalismo da Bíblia.
Comparando as duas classificações, descobriu, com poucas excepções, que os países menos religiosos desfrutavam da maior prosperidade. A assinalar em particular, os EUA têm a distinção de ser o mais religioso e menos próspero entre os 17 países incluídos no estudo, ficando em último lugar em 14 das 15 medidas socio-económicas.
Paul apressa-se a assinalar que o seu estudo revela correlação e não causação. O que veio primeiro — a prosperidade ou a secularidade — não é claro, mas Paul aventura um palpite. Embora possivelmente a boa governância e a saúde socio-económica sejam derivadas de uma sociedade secular, o investigador especula que, mais provavelmente, as pessoas inclinam~se a abandonar as suas ligações à religião uma vez que se sentem distanciadas das inseguranças e fardos da vida. (…)
— David Villano, in "Who Needs God When We've Got Mammon?", publicado em Miller-McCune Online Magazine
De Dostoiévski até à comentadora de direita Ann Coulter, avisam-nos sobre os perigos de não acreditar em Deus. "Se não existir Deus," escreveu Dostoiévski, "tudo é permitido". Coulter atribui rotineiramente os problemas mais intratáveis da nossa sociedade ao vácuo moral do ateísmo.
Mas um corpo crescente de investigação naquilo que um sociólogo chama "o campo emergente da secularidade", está a desafiar suposições antigas sobre a relação da religião com a governância eficaz.
Numa monografia publicada no jornal online Evolutionary Psychology, o investigador independente Gregory S. Paul relata uma forte correlação entre bem-estar económico e secularidade. Em resumo, a prosperidade é mais elevada em sociedades onde se pratica menos a religião.
Usando dados existentes, Paul combinou 25 indicadores de estabilidade social e económica — coisas como crime, suicídio, uso de drogas, encarceração, desemprego, rendimento, aborto e corrupção pública — para classificar cada país usando aquilo a que chama a "escala das sociedades bem sucedidas". Classificou também os países segundo o seu grau de religiosidade, como determinado por critérios tais como frequência às igrejas, crença numa divindade criadora e aceitação do literalismo da Bíblia.
Comparando as duas classificações, descobriu, com poucas excepções, que os países menos religiosos desfrutavam da maior prosperidade. A assinalar em particular, os EUA têm a distinção de ser o mais religioso e menos próspero entre os 17 países incluídos no estudo, ficando em último lugar em 14 das 15 medidas socio-económicas.
Paul apressa-se a assinalar que o seu estudo revela correlação e não causação. O que veio primeiro — a prosperidade ou a secularidade — não é claro, mas Paul aventura um palpite. Embora possivelmente a boa governância e a saúde socio-económica sejam derivadas de uma sociedade secular, o investigador especula que, mais provavelmente, as pessoas inclinam~se a abandonar as suas ligações à religião uma vez que se sentem distanciadas das inseguranças e fardos da vida. (…)
— David Villano, in "Who Needs God When We've Got Mammon?", publicado em Miller-McCune Online Magazine
"Legalização: Os Primeiros Cem Anos"
[excerto de post]
Hoje em dia, quando a ideia de legalizar as drogas está a abrir caminho na agenda política mainstream pela primeira vez desde que há memória, uma das objecções mais comuns a ela é que representa uma experiência de alto risco cujo desfecho é impossível de modelar ou prever com precisão. Todavia, dentro do contexto histórico, o oposto é que é verdade: a proibição de drogas é que é a ousada experiência sem precedentes. Há cem anos, qualquer um de nós podia ter entrado numa drogaria da rua principal e comprado ao balcão cannabis ou cocaína, morfina ou heroína. Nesta altura, as drogas alteradoras da mente tinham estado livremente disponíveis ao longo da História e através de quase todas as culturas, a sua proibição, pressionada em grande medida pelo objectivo de eliminar o álcool das sociedades modernas, tendo representado um corte radical com o costume tradicional das políticas sociais.
Nem se deu o caso de a proibição das drogas ter sido uma reacção à sua súbita aparição nas sociedades ocidentais. Em 1800, praticamente as únicas drogas que eram familares ao Ocidente eram o álcool e o ópio; mas em 1900, a constelação de substâncias que formam a categoria moderna das drogas ilícitas — os opiáceos, a cocaína, os estimulantes e os psicadélicos — tinham todas encontrado os seus nichos no interior de uma cultura consumista alimentada pelas descobertas científicas e a expansão do comércio mundial. O século XIX, tipicamente considerado uma era de repressão, proibidade moral e controle social, podia também ser etiquetado como "Legalização das Drogas — Os Primeiros Cem Anos" (Jay 2000).
Os decisores políticos actuais podem aprender muito com esta era. Não apenas foi nela que se inauguraram, com diversos graus de sucesso, a maioria das políticas hoje em debate — controlo estatutório e regulamentação, supervisão médica e exclusão legal —, mas a disponibilidade legal das drogas oferece um vislumbre sobre como o público em geral lidava originalmente com os seus benefícios e perigos, e como as diversas substâncias encontraram os seus próprios níveis de uso no interior da sociedade em geral. Evidentemente, a História tem os seus limites: não pode dizer-nos tudo, e não pode esperar-se que se repita exactamente. A cannabis, por exemplo, foi legal através do século XIX, e por diversas razões os seus níveis de uso mantiveram-se bastante baixos: se fosse legalizada amanhã, dificilmente esperaríamos que a sua prevalência caísse para níveis do século XIX. Mas ainda assim a História ilumina muitas das dinâmicas subjacentes ao debate moderno sobre as drogas, a menor das quais não é possibilitar a distinção entre as consequências das próprias drogas e aquelas que apenas se seguiram uma vez que o seu uso fora proibido.
(…) O último século de políticas sociais transformou a nossa relação tradicional com as drogas em algo que é novo e singularmente problemático, para o qual a História não oferece qualquer solução à medida. Serve contudo para lembrar que a droga que apresenta os problemas mais óbvios de saúde pública é o álcool, e que embora a política em relação ao álcool continue a ser altamente problemática, tem demonstrado em geral que a melhor maneira de lidar com ele não é a proibição mas sim a socialização sob uma cobertura de regulamentação estatutória e educação. A História oferece também uma ilustração de como uma sociedade legalmente permeada pelas actuais drogas ilícitas costumava funcionar, e mostra que níveis elevados de prevalência geral de drogas podem coexistir com baixos níveis de uso problemático. Finalmente, oferece uma oportunidade de avaliar as ferramentas de controlo e regulamentação que poderiam constituir uma alternativa à nossa política actual, as quais, uma vez que uma proibição completa não conseguiu impedir a disponibilidade de qualquer droga, provaram historicamente ser a reacção mais eficaz.
— Mike Jay, in "Legalisation: The First Hundred Years", publicado em Brainwaving
Hoje em dia, quando a ideia de legalizar as drogas está a abrir caminho na agenda política mainstream pela primeira vez desde que há memória, uma das objecções mais comuns a ela é que representa uma experiência de alto risco cujo desfecho é impossível de modelar ou prever com precisão. Todavia, dentro do contexto histórico, o oposto é que é verdade: a proibição de drogas é que é a ousada experiência sem precedentes. Há cem anos, qualquer um de nós podia ter entrado numa drogaria da rua principal e comprado ao balcão cannabis ou cocaína, morfina ou heroína. Nesta altura, as drogas alteradoras da mente tinham estado livremente disponíveis ao longo da História e através de quase todas as culturas, a sua proibição, pressionada em grande medida pelo objectivo de eliminar o álcool das sociedades modernas, tendo representado um corte radical com o costume tradicional das políticas sociais.
Nem se deu o caso de a proibição das drogas ter sido uma reacção à sua súbita aparição nas sociedades ocidentais. Em 1800, praticamente as únicas drogas que eram familares ao Ocidente eram o álcool e o ópio; mas em 1900, a constelação de substâncias que formam a categoria moderna das drogas ilícitas — os opiáceos, a cocaína, os estimulantes e os psicadélicos — tinham todas encontrado os seus nichos no interior de uma cultura consumista alimentada pelas descobertas científicas e a expansão do comércio mundial. O século XIX, tipicamente considerado uma era de repressão, proibidade moral e controle social, podia também ser etiquetado como "Legalização das Drogas — Os Primeiros Cem Anos" (Jay 2000).
Os decisores políticos actuais podem aprender muito com esta era. Não apenas foi nela que se inauguraram, com diversos graus de sucesso, a maioria das políticas hoje em debate — controlo estatutório e regulamentação, supervisão médica e exclusão legal —, mas a disponibilidade legal das drogas oferece um vislumbre sobre como o público em geral lidava originalmente com os seus benefícios e perigos, e como as diversas substâncias encontraram os seus próprios níveis de uso no interior da sociedade em geral. Evidentemente, a História tem os seus limites: não pode dizer-nos tudo, e não pode esperar-se que se repita exactamente. A cannabis, por exemplo, foi legal através do século XIX, e por diversas razões os seus níveis de uso mantiveram-se bastante baixos: se fosse legalizada amanhã, dificilmente esperaríamos que a sua prevalência caísse para níveis do século XIX. Mas ainda assim a História ilumina muitas das dinâmicas subjacentes ao debate moderno sobre as drogas, a menor das quais não é possibilitar a distinção entre as consequências das próprias drogas e aquelas que apenas se seguiram uma vez que o seu uso fora proibido.
(…) O último século de políticas sociais transformou a nossa relação tradicional com as drogas em algo que é novo e singularmente problemático, para o qual a História não oferece qualquer solução à medida. Serve contudo para lembrar que a droga que apresenta os problemas mais óbvios de saúde pública é o álcool, e que embora a política em relação ao álcool continue a ser altamente problemática, tem demonstrado em geral que a melhor maneira de lidar com ele não é a proibição mas sim a socialização sob uma cobertura de regulamentação estatutória e educação. A História oferece também uma ilustração de como uma sociedade legalmente permeada pelas actuais drogas ilícitas costumava funcionar, e mostra que níveis elevados de prevalência geral de drogas podem coexistir com baixos níveis de uso problemático. Finalmente, oferece uma oportunidade de avaliar as ferramentas de controlo e regulamentação que poderiam constituir uma alternativa à nossa política actual, as quais, uma vez que uma proibição completa não conseguiu impedir a disponibilidade de qualquer droga, provaram historicamente ser a reacção mais eficaz.
— Mike Jay, in "Legalisation: The First Hundred Years", publicado em Brainwaving
"Debaixo da Floresta"
[excerto de post]
A devastação gradual da Amazónia — o derrube de milhares de quilómetros quadrados de floresta, a eliminação da selva — produziu, paradoxalmente, uma das maiores descobertas arqueológicas: uma vasta e complexa civilização antiga. Em áreas desmatadas da bacia superior do Amazonas, os investigadores assinalaram recentemente, usando imagens de satélite, uma enorme rede de terraplanagens, incluindo estradas e estruturas alinhadas geometricamente, construídas por uma civilização até agora desconhecida. Segundo um novo relatório publicado na revista Antiquity, o arqueólogo Martii Pärssinen e outros cientistas documentaram mais de duzentas e dez estruturas geométricas, algumas das quais poderão datar de há tanto tempo quanto o terceiro século da nossa era. Espalham-se por uma área que abarca mais de duzentos e cinquenta quilómetros, indo desde o norte da Bolívia até ao estado do Amazonas no Brasil.
Tal como escrevi anteriormente em The New Yorker e no meu livro “The Lost City of Z,” durante séculos a maioria das pessoas assumiu que a Amazónia era uma floresta primordial, um lugar onde não havia, como Thomas Hobbes descreveu o estado da Natureza, “nenhumas Artes; nenhumas Letras; nenhuma Sociedade; e o que é o pior de tudo, medo contínuo, e perigo de morte violenta". Embora os antigos conquistadores tivessem ouvido os índios falar de uma civilização amazónica fabulosamente rica, a que chamaram El Dorado, as buscas que dela se fizeram acabaram invariavelmente em desastre. Milhares de pessoas foram aniquiladas pela doença e pela fome. E após um balanço de morte e sofrimento digno de Joseph Conrad, a maioria dos estudiosos concluiu que o El Dorado não passava de uma ilusão. De facto, os cientistas acreditavam que as condições implacáveis na selva eram simplesmente inóspitas demais para sustentar uma grande população, que é um precursor de qualquer sociedade grande e complexa. Ficou famosa a classificação da região como um "paraíso falsificado", feita por Betty Meggers, o nome mais influente da arqueologia do século XX.
Nas primeiras décadas do século XX, o explorador britânico Percy Harrison Fawcett desafiou esta ideia prevalecente. Ao explorar e cartografar em grande medida a mesma área onde as ruínas foram recentemente descobertas, informou ter encontrado grandes montes de terra repletos de cerâmica antiga e estaladiça. Enterrados sob o solo da selva, afirmou, havia também vestígios de canais e estradas. Baseado nestes e noutros indícios, insistiu que a Amazónia contivera outrora grandes populações, e pelo menos uma, se não mais, civilizações avançadas. Apesar de ser desconsiderado e ridicularizado como tolinho, em 1925 Fawcett partiu em busca do lugar, que baptizou "Cidade de Z". Ele e a sua expedição, incluindo Jack, o seu filho de vinte e um anos, desapareceram então para sempre — um destino que pareceu confirmar a loucura de uma tal demanda.
No decurso dos últimos anos, porém, tem surgido evidência crescente de que quase tudo que outrora se acreditava em geral sobre a Amazónia e o seu povo estava errado, e que Fawcett foi de facto presciente. (…)
— David Grann, in "Under vthe Jungle", publicado em The New Yorker
A devastação gradual da Amazónia — o derrube de milhares de quilómetros quadrados de floresta, a eliminação da selva — produziu, paradoxalmente, uma das maiores descobertas arqueológicas: uma vasta e complexa civilização antiga. Em áreas desmatadas da bacia superior do Amazonas, os investigadores assinalaram recentemente, usando imagens de satélite, uma enorme rede de terraplanagens, incluindo estradas e estruturas alinhadas geometricamente, construídas por uma civilização até agora desconhecida. Segundo um novo relatório publicado na revista Antiquity, o arqueólogo Martii Pärssinen e outros cientistas documentaram mais de duzentas e dez estruturas geométricas, algumas das quais poderão datar de há tanto tempo quanto o terceiro século da nossa era. Espalham-se por uma área que abarca mais de duzentos e cinquenta quilómetros, indo desde o norte da Bolívia até ao estado do Amazonas no Brasil.
Tal como escrevi anteriormente em The New Yorker e no meu livro “The Lost City of Z,” durante séculos a maioria das pessoas assumiu que a Amazónia era uma floresta primordial, um lugar onde não havia, como Thomas Hobbes descreveu o estado da Natureza, “nenhumas Artes; nenhumas Letras; nenhuma Sociedade; e o que é o pior de tudo, medo contínuo, e perigo de morte violenta". Embora os antigos conquistadores tivessem ouvido os índios falar de uma civilização amazónica fabulosamente rica, a que chamaram El Dorado, as buscas que dela se fizeram acabaram invariavelmente em desastre. Milhares de pessoas foram aniquiladas pela doença e pela fome. E após um balanço de morte e sofrimento digno de Joseph Conrad, a maioria dos estudiosos concluiu que o El Dorado não passava de uma ilusão. De facto, os cientistas acreditavam que as condições implacáveis na selva eram simplesmente inóspitas demais para sustentar uma grande população, que é um precursor de qualquer sociedade grande e complexa. Ficou famosa a classificação da região como um "paraíso falsificado", feita por Betty Meggers, o nome mais influente da arqueologia do século XX.
Nas primeiras décadas do século XX, o explorador britânico Percy Harrison Fawcett desafiou esta ideia prevalecente. Ao explorar e cartografar em grande medida a mesma área onde as ruínas foram recentemente descobertas, informou ter encontrado grandes montes de terra repletos de cerâmica antiga e estaladiça. Enterrados sob o solo da selva, afirmou, havia também vestígios de canais e estradas. Baseado nestes e noutros indícios, insistiu que a Amazónia contivera outrora grandes populações, e pelo menos uma, se não mais, civilizações avançadas. Apesar de ser desconsiderado e ridicularizado como tolinho, em 1925 Fawcett partiu em busca do lugar, que baptizou "Cidade de Z". Ele e a sua expedição, incluindo Jack, o seu filho de vinte e um anos, desapareceram então para sempre — um destino que pareceu confirmar a loucura de uma tal demanda.
No decurso dos últimos anos, porém, tem surgido evidência crescente de que quase tudo que outrora se acreditava em geral sobre a Amazónia e o seu povo estava errado, e que Fawcett foi de facto presciente. (…)
— David Grann, in "Under vthe Jungle", publicado em The New Yorker
Etiquetas:
amazónia,
ambiente,
arqueologia,
fawcett
"Tratando do Jardim da Tecnologia"
[excerto de entrevista com Kevin Kelly]
(…) A profundidade das raízes da tecnologia ultrapassa a cultura humana. Elas estendem-se, entrelaçadas, mesmo até ao Big Bang. A tecnologia é um exemplo — tal como a vida e a inteligência — de um sistema extrópico, um sistema que se alimenta de entropia para construir ordem, e não apenas ordem, mas ordem auto-amplificadora dotada de uma complexidade e profundidade explosivas. Os sistemas extrópicos criam ainda mais entropia no processo — isto é, a energia percorre o sistema a uma taxa aumentada de rapidez e densidade. É esta é definição dos sistemas auto-sustentáveis, tais como os organismos vivos. Há uma continuidade desde o início do universo, o qual se está a expandir para o exterior e a criar espaço para permitir que a diversidade floresça.
O que temos é uma tendência a longo prazo para uma crescente diversidade, complexidade e especialização — todas características dos sistemas auto-sustentáveis. Pode tratar-se de uma galáxia ou de um sol ou da inteligência. A densidade energética resultante é tecnologia. Uso o termo "O Technium". Uma galáxia é um sistema composto de tecnologias individuais, complexas bastante para terem as suas próprias qualidades de auto-sustentação, incluindo a autopreservação. Uma galáxia autoperpetua-se e está em autocrescimento. Poderia dizer-se que os seres humanos são os órgãos sexuais da tecnologia — que somos necessários para a sua sobrevivência. Mas a tecnologia tem inércia, prioridades, tendências e preconceitos próprios.
P: Para além de se reproduzirem, qual é o propósito destes sistemas?
KK: Estes sistemas são a evolução em evoluçâo. São graus crescentes de liberdade. E esta é a parte teológica — temos o jogo infinito. O jogo é prolongar o jogo, de modo ao jogo continuar. O jogo é continuar a mudar a natureza da mudança. E esse jogo infinito é, na minha opinião, o sagrado. Joga-se não para se ganhar mas para se continuar a jogar, de modo a dar espaço a todas as expressões da verdade, do bom e do belo. Estamos a abrir o mundo à possibilidade. Todas as crianças nascidas hoje na Terra têm alguma mistura particular de genes e de ambiente, de capacidade e inteligência a libertar. O jogo é sobre tentar educar esse indivíduo de modo a ele assumir uma posição em que o seu potencial e a sua possibilidade possam ser maximizados. E a tecnologia é o instrumento.
P: Falou sobre o que teria acontecido a Beethoven se ele tivesse nascido antes da invenção do piano…
KK: Isso ajuda-me a pensar nas pessoas nascidas hoje que possam carecer de alguma tecnologia que lhes permitiria atingirem o seu melhor. É isso que a tecnologia é na acepção mais vasta — a descoberta de potencial e de possibilidade.
P: Mas as ferramentas não são criatividade.
KK: A um nível profundo, o acto de descoberta e o acto de criação são idênticos. Os passos que daríamos para descobrir algo são exactamente os mesmos passos que daríamos para fazer algo. De modo que se poderia dizer que Edison descobriu a lâmpada eléctrica e que Newton inventou a gravidade. (…)
— Andrew Lawler, in "Tending the Garden of Technology", publicado em Orion Magazine
(…) A profundidade das raízes da tecnologia ultrapassa a cultura humana. Elas estendem-se, entrelaçadas, mesmo até ao Big Bang. A tecnologia é um exemplo — tal como a vida e a inteligência — de um sistema extrópico, um sistema que se alimenta de entropia para construir ordem, e não apenas ordem, mas ordem auto-amplificadora dotada de uma complexidade e profundidade explosivas. Os sistemas extrópicos criam ainda mais entropia no processo — isto é, a energia percorre o sistema a uma taxa aumentada de rapidez e densidade. É esta é definição dos sistemas auto-sustentáveis, tais como os organismos vivos. Há uma continuidade desde o início do universo, o qual se está a expandir para o exterior e a criar espaço para permitir que a diversidade floresça.
O que temos é uma tendência a longo prazo para uma crescente diversidade, complexidade e especialização — todas características dos sistemas auto-sustentáveis. Pode tratar-se de uma galáxia ou de um sol ou da inteligência. A densidade energética resultante é tecnologia. Uso o termo "O Technium". Uma galáxia é um sistema composto de tecnologias individuais, complexas bastante para terem as suas próprias qualidades de auto-sustentação, incluindo a autopreservação. Uma galáxia autoperpetua-se e está em autocrescimento. Poderia dizer-se que os seres humanos são os órgãos sexuais da tecnologia — que somos necessários para a sua sobrevivência. Mas a tecnologia tem inércia, prioridades, tendências e preconceitos próprios.
P: Para além de se reproduzirem, qual é o propósito destes sistemas?
KK: Estes sistemas são a evolução em evoluçâo. São graus crescentes de liberdade. E esta é a parte teológica — temos o jogo infinito. O jogo é prolongar o jogo, de modo ao jogo continuar. O jogo é continuar a mudar a natureza da mudança. E esse jogo infinito é, na minha opinião, o sagrado. Joga-se não para se ganhar mas para se continuar a jogar, de modo a dar espaço a todas as expressões da verdade, do bom e do belo. Estamos a abrir o mundo à possibilidade. Todas as crianças nascidas hoje na Terra têm alguma mistura particular de genes e de ambiente, de capacidade e inteligência a libertar. O jogo é sobre tentar educar esse indivíduo de modo a ele assumir uma posição em que o seu potencial e a sua possibilidade possam ser maximizados. E a tecnologia é o instrumento.
P: Falou sobre o que teria acontecido a Beethoven se ele tivesse nascido antes da invenção do piano…
KK: Isso ajuda-me a pensar nas pessoas nascidas hoje que possam carecer de alguma tecnologia que lhes permitiria atingirem o seu melhor. É isso que a tecnologia é na acepção mais vasta — a descoberta de potencial e de possibilidade.
P: Mas as ferramentas não são criatividade.
KK: A um nível profundo, o acto de descoberta e o acto de criação são idênticos. Os passos que daríamos para descobrir algo são exactamente os mesmos passos que daríamos para fazer algo. De modo que se poderia dizer que Edison descobriu a lâmpada eléctrica e que Newton inventou a gravidade. (…)
— Andrew Lawler, in "Tending the Garden of Technology", publicado em Orion Magazine
"Uma Obsessão Natural"
[excerto de artigo]
(…) o que pode ter começado com uma revolta contra a comida artificial ou, para muitos, contra os horrores da criação concentrada de animais, deu lugar a uma cultura que fetichiza os alimentos orgânicos, naturais e integrais, com pouca concordância sobre o que esses termos significam de facto, à excepção de uma devoção enfática àquilo que esses alimentos não são. Eles não estão de modo algum relacionados com explorações agrícolas em escala industrial ou com redes retalhistas de bens alimentares, com herbicidas ou pesticidas químicos, com biotecnologia ou com o seu subgénero, a engenharia genética. E, segundo estes critérios, considera-se que estes alimentos são mais seguros, mais nutritivos e menos lesivos para o ambiente.
Porém, uma escrutinização mais cuidadosa destas suposições pouco revela que as confirme. Como Michael Specter assinala no livro que se apresta a lançar, Denialism, o mercúrio, o chumbo e o amianto também são "naturais", assim como o são a E. coli e a salmonela. Em 2009, um surto de salmonela matou nove pessoas, fez adoecer centenas e desencadeou a maior retirada de produtos alimentares da história dos EUA. Entretanto, os produtos geneticamente modificados, apesar de estarem no mercado há mais de 13 anos, não fizeram adoecer ninguém, diz Specter.
Nutricionalmente, não há indícios claros de que os alimentos orgânicos sejam melhores do que os convencionais. Num estudo recente, investigadores financiados pelo Centro Internacional para a Investigação de Sistemas Alimentares Orgânicos, na Dinamarca, compararam couves, ervilhas, batatas e maçãs cultivadas organicamente com outras cultivadas segundo as prescrições convencionais. Durante dois anos, alimentaram também ratinhos tanto com alimentos orgânicos como com convencionais. "No seu conjunto, não havia nenhuma tendência evidente apontando para diferenças nos elementos contidos nos alimentos ou nas dietas devido ao uso de sistemas diferentes de cultivo," concluíram no Journal of the Science of Food and Agriculture. Nem os vegetais orgânicos nem os ratos alimentados com eles revelaram ser algo mais do que vulgares.
Quanto a estimar a pegada ecológica, o número de estudos contraditórios é estonteante, mas a agricultura orgânica tende a ganhar uma ligeira vantagem em relação a práticas convencionais quimicamente intensivas, sobretudo por usar menos pesticidas e fertilizantes baseados no petróleo. Por exemplo, o ecologista David Pimentel, da Universidade de Cornell, mostrou que colheitas de soja cultivada organicamente produziam o mesmo rendimento mas usavam 30 por cento menos energia do que as suas contrapartes cultivadas de forma convencional. Cientistas suíços descobriram que os inputs energéticos cumulativos aplicados à agricultura orgânica são cerca de metade dos da agricultura convencional e usam 97 por centro menos pesticidas — embora as colheitas sejam também dramaticamente menores.
Levem-se porém em conta os custos de transporte dos alimentos — "as milhas alimentares" —, e essas eco-margens desaparecem rapidamente. Em 2005, investigadores britânicos estimaram que as "poupanças ambientais" do abastecimento local de alimentos excediam as de toda a agricultura orgânica em aproximadamente 2:1. Isto é, uma maçã cultivada organicamente no Estado de Washington e transportada por estrada para um mercado de agricultores quase de certeza lança mais carbono para a atmosfera do que uma maçã cultivada convencionalmente no local e comprada num grande retalhista. (…)
— Maywa Montenegro, in "A Natural Obsession", publicado em SEEDMAGAZINE
(…) o que pode ter começado com uma revolta contra a comida artificial ou, para muitos, contra os horrores da criação concentrada de animais, deu lugar a uma cultura que fetichiza os alimentos orgânicos, naturais e integrais, com pouca concordância sobre o que esses termos significam de facto, à excepção de uma devoção enfática àquilo que esses alimentos não são. Eles não estão de modo algum relacionados com explorações agrícolas em escala industrial ou com redes retalhistas de bens alimentares, com herbicidas ou pesticidas químicos, com biotecnologia ou com o seu subgénero, a engenharia genética. E, segundo estes critérios, considera-se que estes alimentos são mais seguros, mais nutritivos e menos lesivos para o ambiente.
Porém, uma escrutinização mais cuidadosa destas suposições pouco revela que as confirme. Como Michael Specter assinala no livro que se apresta a lançar, Denialism, o mercúrio, o chumbo e o amianto também são "naturais", assim como o são a E. coli e a salmonela. Em 2009, um surto de salmonela matou nove pessoas, fez adoecer centenas e desencadeou a maior retirada de produtos alimentares da história dos EUA. Entretanto, os produtos geneticamente modificados, apesar de estarem no mercado há mais de 13 anos, não fizeram adoecer ninguém, diz Specter.
Nutricionalmente, não há indícios claros de que os alimentos orgânicos sejam melhores do que os convencionais. Num estudo recente, investigadores financiados pelo Centro Internacional para a Investigação de Sistemas Alimentares Orgânicos, na Dinamarca, compararam couves, ervilhas, batatas e maçãs cultivadas organicamente com outras cultivadas segundo as prescrições convencionais. Durante dois anos, alimentaram também ratinhos tanto com alimentos orgânicos como com convencionais. "No seu conjunto, não havia nenhuma tendência evidente apontando para diferenças nos elementos contidos nos alimentos ou nas dietas devido ao uso de sistemas diferentes de cultivo," concluíram no Journal of the Science of Food and Agriculture. Nem os vegetais orgânicos nem os ratos alimentados com eles revelaram ser algo mais do que vulgares.
Quanto a estimar a pegada ecológica, o número de estudos contraditórios é estonteante, mas a agricultura orgânica tende a ganhar uma ligeira vantagem em relação a práticas convencionais quimicamente intensivas, sobretudo por usar menos pesticidas e fertilizantes baseados no petróleo. Por exemplo, o ecologista David Pimentel, da Universidade de Cornell, mostrou que colheitas de soja cultivada organicamente produziam o mesmo rendimento mas usavam 30 por cento menos energia do que as suas contrapartes cultivadas de forma convencional. Cientistas suíços descobriram que os inputs energéticos cumulativos aplicados à agricultura orgânica são cerca de metade dos da agricultura convencional e usam 97 por centro menos pesticidas — embora as colheitas sejam também dramaticamente menores.
Levem-se porém em conta os custos de transporte dos alimentos — "as milhas alimentares" —, e essas eco-margens desaparecem rapidamente. Em 2005, investigadores britânicos estimaram que as "poupanças ambientais" do abastecimento local de alimentos excediam as de toda a agricultura orgânica em aproximadamente 2:1. Isto é, uma maçã cultivada organicamente no Estado de Washington e transportada por estrada para um mercado de agricultores quase de certeza lança mais carbono para a atmosfera do que uma maçã cultivada convencionalmente no local e comprada num grande retalhista. (…)
— Maywa Montenegro, in "A Natural Obsession", publicado em SEEDMAGAZINE
"O Facebook Irá Matar o Automóvel?"
[excerto de post]
Lester Brown do Earth Policy Institute apresentou hoje um novo relatório mostrando que o parque automóvel americano encolheu quatro milhões de carros em 2009 — a primeira vez que isto acontece desde a 2ª Guerra Mundial. No total, foram para a sucata 14 milhões de veículos e apenas foram comprados 10 milhões (por comparação, antes de 2007 vendiam-se em média cerca de 17 milhões de automóveis por ano). É muito possível que isto seja só a recessão a falar, mas Brown pensa que marca o início de um "afastamento cultural em relação aos carros":
Entre as tendências que estão a manter as vendas bem abaixo do número anual de 15-17 milhões, contam-se a saturação do mercado, a urbanização continuada, a incerteza económica, a insegurança quanto ao petróleo, o aumento do preço da gasolina, a frustração com a congestão do tráfego, a preocupação crescente com as alterações climáticas, e o declínio do interesse dos jovens pelos carros. (…)
A tendência social mais fundamental afectando o futuro do automóvel talvez seja o declínio do interesse dos jovens pelos carros. Para aqueles que cresceram há cinquenta anos num país que ainda era fortemente rural, tirar a carta de condução e ter um carro ou uma carrinha era um rito de passagem. Enfiar outros adolescentes no carro e ir dar uma volta nele era um passatempo popular.
Em contraste, muitos dos jovens de hoje, vivendo numa sociedade mais urbana, aprendem a viver sem carros. Socializam na Internet e em smart phones, não em carros. Muitos não se dão sequer ao trabalho de tirar a carta de condução. Isto ajuda a explicar por que, apesar de a população adolescente americana ser a maior de sempre, o número de adolescentes com carta de condução, que atingiu o pico em 1978 com 12 milhões, se encontra agora abaixo dos 10 milhões.
Será verdade? Os miúdos passam tanto tempo no Facebook que já não têm tempo para andar a passear de carro? Suponho que é plausível. Teremos de ver se esta tendência continua quando (se?) a economia americana começar a crescer de novo. Não são exactamente boas notícias para os fabricantes de automóveis — e fazem-nos pensar por quanto mais tempo os governos ocidentais conseguirão amparar uma indústria que poderá ter de começar a encolher. Embora a outra coisa a notar aqui é que mesmo que os americanos estejam a comprar menos carros, os países em desenvolvimento estão a compensar esse facto. No ano passado a China tornou-se oficialmente o maior mercado automóvel do mundo e, segundo alguns cálculos, o número de veículos em todo o mundo duplicará — para dois mil milhões — em 2020.
— Bradford Plumer, in "Will Facebook Kill Off The Automobile?", publicado em The New Republic
Lester Brown do Earth Policy Institute apresentou hoje um novo relatório mostrando que o parque automóvel americano encolheu quatro milhões de carros em 2009 — a primeira vez que isto acontece desde a 2ª Guerra Mundial. No total, foram para a sucata 14 milhões de veículos e apenas foram comprados 10 milhões (por comparação, antes de 2007 vendiam-se em média cerca de 17 milhões de automóveis por ano). É muito possível que isto seja só a recessão a falar, mas Brown pensa que marca o início de um "afastamento cultural em relação aos carros":
Entre as tendências que estão a manter as vendas bem abaixo do número anual de 15-17 milhões, contam-se a saturação do mercado, a urbanização continuada, a incerteza económica, a insegurança quanto ao petróleo, o aumento do preço da gasolina, a frustração com a congestão do tráfego, a preocupação crescente com as alterações climáticas, e o declínio do interesse dos jovens pelos carros. (…)
A tendência social mais fundamental afectando o futuro do automóvel talvez seja o declínio do interesse dos jovens pelos carros. Para aqueles que cresceram há cinquenta anos num país que ainda era fortemente rural, tirar a carta de condução e ter um carro ou uma carrinha era um rito de passagem. Enfiar outros adolescentes no carro e ir dar uma volta nele era um passatempo popular.
Em contraste, muitos dos jovens de hoje, vivendo numa sociedade mais urbana, aprendem a viver sem carros. Socializam na Internet e em smart phones, não em carros. Muitos não se dão sequer ao trabalho de tirar a carta de condução. Isto ajuda a explicar por que, apesar de a população adolescente americana ser a maior de sempre, o número de adolescentes com carta de condução, que atingiu o pico em 1978 com 12 milhões, se encontra agora abaixo dos 10 milhões.
Será verdade? Os miúdos passam tanto tempo no Facebook que já não têm tempo para andar a passear de carro? Suponho que é plausível. Teremos de ver se esta tendência continua quando (se?) a economia americana começar a crescer de novo. Não são exactamente boas notícias para os fabricantes de automóveis — e fazem-nos pensar por quanto mais tempo os governos ocidentais conseguirão amparar uma indústria que poderá ter de começar a encolher. Embora a outra coisa a notar aqui é que mesmo que os americanos estejam a comprar menos carros, os países em desenvolvimento estão a compensar esse facto. No ano passado a China tornou-se oficialmente o maior mercado automóvel do mundo e, segundo alguns cálculos, o número de veículos em todo o mundo duplicará — para dois mil milhões — em 2020.
— Bradford Plumer, in "Will Facebook Kill Off The Automobile?", publicado em The New Republic
"A McDonald's Sai da Islândia"
[post]
(…) A McDonald's vai abandonar a Islândia, vítima do colapso da moeda desse país. A BBC tem mais:
A McDonald's vai cancelar os seus negócios na Irlanda porque a crise financeira do país tornou dispendiosa demais a operação das franchises que aí tem.
O gigante da fast food disse que os seus três restaurantes no país encerrariam — e que não tinha planos para regressar.
Para além da economia, a McDonald's culpou a "complexidade operacional sem par" de fazer negócios num país isolado com uma população de apenas 300.000 pessoas.
Devia porém assinalar-se que, embora a Islândia vá ter de passar sem produtos embalados de carne de baixa qualidade, impregnados com aromas artificiais de modo a torná-los aceitáveis ao paladar humano, isso não quer dizer necessariamente que a Islândia esteja condenada. Não obstante Thomas Friedman ter observado, em O Lexus e a Oliveira, que "jamais dois países ambos tendo McDonald's tinham combatido uma guerra mútua desde que cada um obteve o seu McDonald's", a sua Teoria Arcos Dourados da Prevenção de Conflitos foi refutada quando a Rússia invadiu a Ossétia do Sul no ano passado. (Ou antes, refutada de novo, já que havia um McDonald's na Sérvia na altura do bombardeamento da NATO em 1999.) De modo que a Islândia não tem necessariamente de recear descobrir-se em breve no meio de um conflito armado. Além disso, acho que há fadas que os protegem, ou algo do género. Seja como for, boa sorte Islândia!
— Jason Linkins, in "McDonald's Pulls Out Of Iceland", publicado em The Huffington Post
(…) A McDonald's vai abandonar a Islândia, vítima do colapso da moeda desse país. A BBC tem mais:
A McDonald's vai cancelar os seus negócios na Irlanda porque a crise financeira do país tornou dispendiosa demais a operação das franchises que aí tem.
O gigante da fast food disse que os seus três restaurantes no país encerrariam — e que não tinha planos para regressar.
Para além da economia, a McDonald's culpou a "complexidade operacional sem par" de fazer negócios num país isolado com uma população de apenas 300.000 pessoas.
Devia porém assinalar-se que, embora a Islândia vá ter de passar sem produtos embalados de carne de baixa qualidade, impregnados com aromas artificiais de modo a torná-los aceitáveis ao paladar humano, isso não quer dizer necessariamente que a Islândia esteja condenada. Não obstante Thomas Friedman ter observado, em O Lexus e a Oliveira, que "jamais dois países ambos tendo McDonald's tinham combatido uma guerra mútua desde que cada um obteve o seu McDonald's", a sua Teoria Arcos Dourados da Prevenção de Conflitos foi refutada quando a Rússia invadiu a Ossétia do Sul no ano passado. (Ou antes, refutada de novo, já que havia um McDonald's na Sérvia na altura do bombardeamento da NATO em 1999.) De modo que a Islândia não tem necessariamente de recear descobrir-se em breve no meio de um conflito armado. Além disso, acho que há fadas que os protegem, ou algo do género. Seja como for, boa sorte Islândia!
— Jason Linkins, in "McDonald's Pulls Out Of Iceland", publicado em The Huffington Post
"As Plantas Reagem"
[excerto de entrevista com Cleve Backster]
Acontece às vezes uma pessoa conseguir referir o momento exacto em que a sua vida mudou irrevogavelmente. Para Cleve Backster, foi de manhã cedo em 2 de Fevereiro de 1966, treze minutos e cinquenta e cinco segundos após o início de um teste poligráfico que estava a conduzir. Backster, um reconhecido perito em polígrafos, cujo Teste de Comparação da Zona Backster é a norma mundial para a detecção de mentiras, tinha nesse momento ameaçado o bem-estar do sujeito da sua experiência. O sujeito reagira electroquimicamente à sua ameaça. O sujeito era uma planta.
Desde então, Backster realizou centenas de experiências demonstrando não apenas que as plantas reagem às nossas emoções, mas que folhas soltas, ovos (fertilizados ou não), o iogurte e amostras de células humanas também o fazem. Descobriu, por exemplo, que células brancas retiradas da boca de uma pessoa e colocadas num tubo de ensaio reagirão electroquimicamente aos estados emocionais do dador, mesmo quando este está ausente da sala, ausente do edifício ou ausente do estado.
Foi em miúdo que li pela primeira vez sobre o trabalho de Backster. As suas observações confirmavam um entendimento que eu então tinha, um entendimento que nem mesmo um doutoramento em física conseguiu mais tarde erradicar: que o mundo está vivo e é senciente.
Conversei com Backster em San Diego, trinta e um anos e vinte e dois dias após a sua observação original, e a um continente inteiro de distância do escritório, na Times Square em Nova Iorque, onde ele outrora vivera e trabalhara. Antes de começarmos, colocou um pouco de iogurte num tubo de ensaio esterilizado, inseriu nele dois eléctrodos de ouro e ligou o registador visual. Ao começarmos a falar, o apontador do dispositivo tremelicou ao de leve. Então, exactamente quando eu ganhava fôlego antes de discordar de algo que ele dissera, o apontador pareceu dar um esticão. Mas ele saltara de facto ou era apenas eu que estava a ver o que queria ver?
A certa altura, enquanto Backster se encontrava fora da sala, tentei enraivecer-me um pouco pensando em florestas devastadas e nos políticos que as sancionam, em crianças abusadas e nos seus abusadores. Mas a linha representando a reacção electromagnética do iogurte manteve-se perfeitamente plana. Talvez o iogurte não estivesse interessado em mim. Eu próprio tendo perdido o interesse, comecei a passear pelo laboratório. O meu olhar foi atraído por um calendário, o qual, numa inspecção mais próxima, revelou ser um anúncio de uma companhia de navegação. Senti um súbito acesso de raiva perante a ubiquidade da publicidade. E então percebi — uma emoção espontânea! Dei uma corrida até ao gráfico, e vi nele um súbito pico, aparentemente correspondendo ao momento em que eu vira o anúncio.
Quando Backster regressou, continuei a entrevista, ainda excitado e talvez um pouco menos céptico. (…)
— Derrick Jensen, in "The Plants Respond", publicado em The Sun Magazine
Acontece às vezes uma pessoa conseguir referir o momento exacto em que a sua vida mudou irrevogavelmente. Para Cleve Backster, foi de manhã cedo em 2 de Fevereiro de 1966, treze minutos e cinquenta e cinco segundos após o início de um teste poligráfico que estava a conduzir. Backster, um reconhecido perito em polígrafos, cujo Teste de Comparação da Zona Backster é a norma mundial para a detecção de mentiras, tinha nesse momento ameaçado o bem-estar do sujeito da sua experiência. O sujeito reagira electroquimicamente à sua ameaça. O sujeito era uma planta.
Desde então, Backster realizou centenas de experiências demonstrando não apenas que as plantas reagem às nossas emoções, mas que folhas soltas, ovos (fertilizados ou não), o iogurte e amostras de células humanas também o fazem. Descobriu, por exemplo, que células brancas retiradas da boca de uma pessoa e colocadas num tubo de ensaio reagirão electroquimicamente aos estados emocionais do dador, mesmo quando este está ausente da sala, ausente do edifício ou ausente do estado.
Foi em miúdo que li pela primeira vez sobre o trabalho de Backster. As suas observações confirmavam um entendimento que eu então tinha, um entendimento que nem mesmo um doutoramento em física conseguiu mais tarde erradicar: que o mundo está vivo e é senciente.
Conversei com Backster em San Diego, trinta e um anos e vinte e dois dias após a sua observação original, e a um continente inteiro de distância do escritório, na Times Square em Nova Iorque, onde ele outrora vivera e trabalhara. Antes de começarmos, colocou um pouco de iogurte num tubo de ensaio esterilizado, inseriu nele dois eléctrodos de ouro e ligou o registador visual. Ao começarmos a falar, o apontador do dispositivo tremelicou ao de leve. Então, exactamente quando eu ganhava fôlego antes de discordar de algo que ele dissera, o apontador pareceu dar um esticão. Mas ele saltara de facto ou era apenas eu que estava a ver o que queria ver?
A certa altura, enquanto Backster se encontrava fora da sala, tentei enraivecer-me um pouco pensando em florestas devastadas e nos políticos que as sancionam, em crianças abusadas e nos seus abusadores. Mas a linha representando a reacção electromagnética do iogurte manteve-se perfeitamente plana. Talvez o iogurte não estivesse interessado em mim. Eu próprio tendo perdido o interesse, comecei a passear pelo laboratório. O meu olhar foi atraído por um calendário, o qual, numa inspecção mais próxima, revelou ser um anúncio de uma companhia de navegação. Senti um súbito acesso de raiva perante a ubiquidade da publicidade. E então percebi — uma emoção espontânea! Dei uma corrida até ao gráfico, e vi nele um súbito pico, aparentemente correspondendo ao momento em que eu vira o anúncio.
Quando Backster regressou, continuei a entrevista, ainda excitado e talvez um pouco menos céptico. (…)
— Derrick Jensen, in "The Plants Respond", publicado em The Sun Magazine
"O Receio da Literacia Digital"
[excerto de post]
(…) Os novos média subsumem os antigos. Não existem ao lado dos velhos média, enquanto uma segunda opção. Embrulham-se em volta dos velhos média, envolvendo-os, de modo a que os novos média podem fazer tudo quanto os velhos faziam, só que mais ainda. Como resultado, tendemos a conferir aos novos média papéis que somos capazes de compreender, de modo que a Internet se torna um telefone e uma rádio e uma televisão e, evidentemente, um livro. Os novos média são sempre capazes de muito mais do que preencher estes papéis antigos. O problema reside em não termos qualquer concepção sobre o que este "mais" poderá ser, dado não termos para já um contexto para ele.
Além disso, a mudança [para a literacia digital] é inevitável. A tecnologia não anda para trás, ou como diz Clay Shirky (…): “a única estratégia que quase garantidamente nada melhorará é esperar que de algum modo consigamos fazer o relógio andar para trás. Isto fracassará, do mesmo passo que nem ressuscitará o passado nem melhorará o futuro".
Acho que esta inevitabilidade assusta algumas pessoas. Elas têm dificuldade em aceitar a validade da literacia digital, quanto mais imaginar a possibilidade de ela subsumir completamente o nosso amor imortal pela palavra escrita. De modo a lidarem com este medo, escondem-se atrás da "opacidade de bulldog" de que falava McLuhan, e apregoam as realizações de dias há muito passados, ansiando por tempos mais simples do mesmo passo que cavalgam as realizações da sua época.
O debate não é sobre inteligente contra estúpido, ou contemplativo contra disperso, ou profundo contra superficial, ou formato longo contra formato curto, ou écrã contra página. É sobre nós admitirmos que há um novo caminho no horizonte, o qual não é nem melhor nem pior, mas é novo. O novo caminho ameaça o velho caminho, caminho este que possivelmente conhecemos e compreendemos, que nos permite formar definições escorreitas de estúpido e inteligente, mas que ainda assim deve evoluir. (…)
— Eyal Sivan, in "Fearing Digital Literacy", publicado em The Connective,
(…) Os novos média subsumem os antigos. Não existem ao lado dos velhos média, enquanto uma segunda opção. Embrulham-se em volta dos velhos média, envolvendo-os, de modo a que os novos média podem fazer tudo quanto os velhos faziam, só que mais ainda. Como resultado, tendemos a conferir aos novos média papéis que somos capazes de compreender, de modo que a Internet se torna um telefone e uma rádio e uma televisão e, evidentemente, um livro. Os novos média são sempre capazes de muito mais do que preencher estes papéis antigos. O problema reside em não termos qualquer concepção sobre o que este "mais" poderá ser, dado não termos para já um contexto para ele.
Além disso, a mudança [para a literacia digital] é inevitável. A tecnologia não anda para trás, ou como diz Clay Shirky (…): “a única estratégia que quase garantidamente nada melhorará é esperar que de algum modo consigamos fazer o relógio andar para trás. Isto fracassará, do mesmo passo que nem ressuscitará o passado nem melhorará o futuro".
Acho que esta inevitabilidade assusta algumas pessoas. Elas têm dificuldade em aceitar a validade da literacia digital, quanto mais imaginar a possibilidade de ela subsumir completamente o nosso amor imortal pela palavra escrita. De modo a lidarem com este medo, escondem-se atrás da "opacidade de bulldog" de que falava McLuhan, e apregoam as realizações de dias há muito passados, ansiando por tempos mais simples do mesmo passo que cavalgam as realizações da sua época.
O debate não é sobre inteligente contra estúpido, ou contemplativo contra disperso, ou profundo contra superficial, ou formato longo contra formato curto, ou écrã contra página. É sobre nós admitirmos que há um novo caminho no horizonte, o qual não é nem melhor nem pior, mas é novo. O novo caminho ameaça o velho caminho, caminho este que possivelmente conhecemos e compreendemos, que nos permite formar definições escorreitas de estúpido e inteligente, mas que ainda assim deve evoluir. (…)
— Eyal Sivan, in "Fearing Digital Literacy", publicado em The Connective,
"Os Limites do Multiculturalismo"
[excerto de post de David Byrne]
(…) Na Holanda, o lugar mais tolerante do planeta, está a tornar-se gradualmente aceite que a tolerância tem de valer para ambos os lados; por outras palavras, espera-se que os imigrantes muçulmanos se tornem "holandeses" em alguns aspectos — mesmo os seus confrades muçulmanos em Amesterdão têm esta expectativa. O que significa que os imigrantes devem aceitar a existência de uma longa tradição de tolerância na Holanda, e especialmente em Amesterdão, e que se vamos mudar-nos para a Holanda deveríamos esperar aceitar esta maneira de pensar tipicamente holandesa. A comunidade muçulmana, por exemplo, tem de se habituar à existência de um bairro com sex shops e mulheres pouco vestidas nas janelas, a que casais do mesmo sexo se possam beijar nas ruas, e à vista de coffee shops que vendem haxixe. O acordo implícito é que viver na Holanda significa que se aceitam coisas destas, por mais que as consideremos de mau gosto. Os holandeses, evidentemente, permitem que a população muçulmana local mantenha também os seus costumes — desde que se encaixem e não façam muitas exigências.
Isto é uma mudança de uma atitude provocatória que, há alguns anos, resultou na morte de Theo van Gogh. Ele fizera um filme que deliberadamente atiçava e provocava a população muçulmana holandesa, em colaboração com Ayaan Hirsi Ali, que recebeu ameaças de morte e agora está sob protecção do governo — e se encontra envolvido com o American Enterprise Institute, um think tank americano de direita. O seu filme de 10 minutos apresenta uma mulher nua vestida com um chador transparente, com versos corânicos justificando a submissão da mulher escritos no seu corpo. Tal como os cartoons dinamarqueses [representando Maomé como um bombista], isto foi encarado pelos muçulmanos como uma provocação deliberada... e também muito grosseira. Trata-se, poderíamos considerar, de fascismo liberal.
Não que van Gogh merecesse morrer. Os holandeses mobilizaram-se e manifestaram-se após a sua morte, e encararam o assassínio como uma tentativa de abafar a liberdade de expressão — de implicar que a expressão pública e a crítica têm limites. Alguns advogados da liberdade de expressão insistem que deve ser-nos permitido dizer e exprimir o que quer que seja, excepto o encorajar da violência. Outros consideraram que o filme era ofensivamente provocatório — de certo modo, encararam o incidente como se os realizadores do filme estivessem a pedi-las. Os advogados da liberdade de expressão consideram que esta é absoluta, e que as pessoas deviam poder dizer seja o que for, dado tratar-se "apenas de palavras".
Ian Buruma, um escritor de ascendência holandesa, escreveu sobre este incidente e as questões que ele suscita. Argumenta que a liberdade de expressão não devia ser considerada absoluta — e que pensar em termos de absolutos conduz sempre ao desastre. Diz que estamos sempre a limitar a nossa liberdade de expressão — lembro-me de o fazermos à volta da família e dos parentes durante as férias do Natal —, e fazemo-lo em prol do convívio, para permitirmos que a sociedade funcione, pela nossa felicidade e pela felicidade dos outros. Não é necessariamente uma mentira não despejarmos da boca para fora a feia verdade sempre que pensamos nela. Durante as férias do Natal, não chateamos o Tio Harry por pentear sobre a careca o cabelo que lhe resta, porque sabemos que fazê-lo se limitaria a tornar a reunião ainda mais tensa do que ela já é — e quem ganharia com uma tal honestidade insensível? Abafar só um bocadinho a liberdade de expressão, com alguma autocensura subtil, torna a vida mais agradável para todos. (…)
— David Byrne, in "The Limits of Multiculturalism", publicado em David Byrne's Journal,
(…) Na Holanda, o lugar mais tolerante do planeta, está a tornar-se gradualmente aceite que a tolerância tem de valer para ambos os lados; por outras palavras, espera-se que os imigrantes muçulmanos se tornem "holandeses" em alguns aspectos — mesmo os seus confrades muçulmanos em Amesterdão têm esta expectativa. O que significa que os imigrantes devem aceitar a existência de uma longa tradição de tolerância na Holanda, e especialmente em Amesterdão, e que se vamos mudar-nos para a Holanda deveríamos esperar aceitar esta maneira de pensar tipicamente holandesa. A comunidade muçulmana, por exemplo, tem de se habituar à existência de um bairro com sex shops e mulheres pouco vestidas nas janelas, a que casais do mesmo sexo se possam beijar nas ruas, e à vista de coffee shops que vendem haxixe. O acordo implícito é que viver na Holanda significa que se aceitam coisas destas, por mais que as consideremos de mau gosto. Os holandeses, evidentemente, permitem que a população muçulmana local mantenha também os seus costumes — desde que se encaixem e não façam muitas exigências.
Isto é uma mudança de uma atitude provocatória que, há alguns anos, resultou na morte de Theo van Gogh. Ele fizera um filme que deliberadamente atiçava e provocava a população muçulmana holandesa, em colaboração com Ayaan Hirsi Ali, que recebeu ameaças de morte e agora está sob protecção do governo — e se encontra envolvido com o American Enterprise Institute, um think tank americano de direita. O seu filme de 10 minutos apresenta uma mulher nua vestida com um chador transparente, com versos corânicos justificando a submissão da mulher escritos no seu corpo. Tal como os cartoons dinamarqueses [representando Maomé como um bombista], isto foi encarado pelos muçulmanos como uma provocação deliberada... e também muito grosseira. Trata-se, poderíamos considerar, de fascismo liberal.
Não que van Gogh merecesse morrer. Os holandeses mobilizaram-se e manifestaram-se após a sua morte, e encararam o assassínio como uma tentativa de abafar a liberdade de expressão — de implicar que a expressão pública e a crítica têm limites. Alguns advogados da liberdade de expressão insistem que deve ser-nos permitido dizer e exprimir o que quer que seja, excepto o encorajar da violência. Outros consideraram que o filme era ofensivamente provocatório — de certo modo, encararam o incidente como se os realizadores do filme estivessem a pedi-las. Os advogados da liberdade de expressão consideram que esta é absoluta, e que as pessoas deviam poder dizer seja o que for, dado tratar-se "apenas de palavras".
Ian Buruma, um escritor de ascendência holandesa, escreveu sobre este incidente e as questões que ele suscita. Argumenta que a liberdade de expressão não devia ser considerada absoluta — e que pensar em termos de absolutos conduz sempre ao desastre. Diz que estamos sempre a limitar a nossa liberdade de expressão — lembro-me de o fazermos à volta da família e dos parentes durante as férias do Natal —, e fazemo-lo em prol do convívio, para permitirmos que a sociedade funcione, pela nossa felicidade e pela felicidade dos outros. Não é necessariamente uma mentira não despejarmos da boca para fora a feia verdade sempre que pensamos nela. Durante as férias do Natal, não chateamos o Tio Harry por pentear sobre a careca o cabelo que lhe resta, porque sabemos que fazê-lo se limitaria a tornar a reunião ainda mais tensa do que ela já é — e quem ganharia com uma tal honestidade insensível? Abafar só um bocadinho a liberdade de expressão, com alguma autocensura subtil, torna a vida mais agradável para todos. (…)
— David Byrne, in "The Limits of Multiculturalism", publicado em David Byrne's Journal,
Etiquetas:
david byrne,
holanda,
muçulmanos,
multiculturalismo
"A Continuidade Surpreendente das Antigas Tecnologias"

[excerto de post de Kevin Kelly]
xxxxCompro um computador novo de dois em dois anos. Mudo de câmaras digitais ainda mais depressa. O software do meu ambiente de trabalho actualiza-se mais ou menos todos os meses. Não há praticamente nada na minha casa inteira que seja mais velho do que eu. Tomamos como garantida a rápida rotatividade da tecnologia. Assumimos que as nossas salas de estar reflectem o estado da tecnologia, mas assumimos mal.
Há uma continuidade surpreendente nas antigas tecnologias. Uma das consequências inesperadas das tecnologias modernas é a forma contraintuitiva como elas mantêm em funcionamento as clássicas tecnologias manuais mais antigas. Gadgets e electrodomésticos, a produtividade agrícola moderna, quinhentos canais de comunicação e tudo o restante da vida moderna deram-nos não apenas um meio de aprendermos antigas artes, mas também o tempo de lazer para praticá-las. Ouvi alguns peritos calcularem que o número de fabricantes de espadas e de ferreiros que hoje trabalham iguala o número de fabricantes de espadas e de ferreiros que trabalhavam há centenas de anos atrás. Para além do nosso actual modo de lazer que encoraja os entusiasmos amadores, a nossa maior população inflacciona o número total de artesãos (do mesmo passo que a sua percentagem diminui). Faz-se a mesma afirmação sobre fabricantes de telescópios, tecelões e vitralistas — que um número maior deles estão vivos e produtivos hoje do que alguma vez antes. Não tenho quaisquer dados sobre esses números (…), mas na minha busca de sustentação para estas afirmações deparei com um grupo que pratica aquela que é provavelmente a tecnologia mais antiga da história humana — lascar pedra. Trata-se do artesanato de transformar pedra em pontas de flecha e de lança.
Surpreendentemente, um número muito grande de novas pontas de pedra é feito todos os anos — precisamente através do mesmo método manual que usavam os caçadores neolíticos. (…)
— Kevin Kelly, in "Surprising Continuity of Ancient Technologies", publicado em The Technium
"GPS em Ajuda de Tribos Amazónicas"
[excerto de artigo]
Wuta está praticamente nu, excepto pela faixa de algodão vermelho amarrada à volta da cintura e pelos colares de contas amarelas que enfeitam o seu torso musculado. Nas suas mãos, porém, segura algo que o situa firmemente do século XXI: um dispositivo GPS.
Membro da tribo Trio, Wuta está a conduzir-me pela floresta tropical perto da sua aldeia no sul do Suriname — a uma hora de voo de Cessna da estrada mais próxima. Na base de uma grande árvore da qual pende uma cascata de lianas, Wuta aponta o seu GPS para o céu: não há sinal. Manipula um botão e alguns minutos depois consegue uma leitura. Indica as coordenadas a um colega cartógrafo Trio que está a seu lado, o qual as anota diligentemente. Wuta continua então a marcha, demonstrando como ele e outros nativos fizeram o levantamento topográfico, a pé ou de canoa, de cerca de 20 milhões de hectares de terra aqui na fronteira norte da Amazónia.
Para evitar serem cilindrados por construtores, rancheiros, madeireiros, mineiros, empresas petrolíferas e biopiratas, tribos através de toda a Bacia Amazónica têm vindo a adquirir ferramentas high tech que lhes permitam defender-se. A maior parte da ajuda neste esforço tem vindo da Equipa de Conservação da Amazónia, uma organização de preservação ambiental e cultural sediada na Virgínia, que forneceu equipamento, experiência cartográfica e assistência financeira. Agora, dúzias de homens como Wuta estão a calcorrear as florestas, fazendo levantamentos topográficos das suas terras com a ajuda de dispositivos GPS portáteis.
Evidentemente, só porque as tribos conseguiram cartografar as terras não significa que controlem todos os direitos legais destas. Mas é um passo nessa direcção. O Suriname usa agora mapas gerados pelos Trio e por outros grupos enquanto documentos governamentais oficiais. No Equador, a tribo Shuar, há muito envolvida num conflito com companhias petrolíferas americanas, recebeu recentemente a titularidade das suas terras comunitárias tal como cartografadas por GPS. A maciça campanha de levantamento topográfico e de delineação de fronteiras outrora imprecisas, levada a cabo por pés calçados de sandálias, deu também às tribos maior confiança para afirmarem os seus interesses — em alguns casos, os nativos expulsaram mineiros ilegais e estabeleceram aldeamentos e postos de vigia nas fronteiras das suas terras.
Em adição â cartografia GPS, as tribos estão a usar o Google Earth com fins de vigilância territorial. As imagens de satélite desta aplicação conseguem identificar ameaças — digamos, a expansão ilegal de uma plantação de soja, ou um rio manchado por efluentes de uma mina de outo. Algumas tribos do Brasil com acesso à Internet estão a marcar as coordenadas de actividades subreptíciais que vêm nas imagens, investigando então a pé ou passando a informação a autoridades governamentais. (…)
— Andy Isaacson, in "With the Help of GPS, Amazonian Tribes Reclaim the Rain Forest", publicado em Wired, via WolrdWebEyes
Wuta está praticamente nu, excepto pela faixa de algodão vermelho amarrada à volta da cintura e pelos colares de contas amarelas que enfeitam o seu torso musculado. Nas suas mãos, porém, segura algo que o situa firmemente do século XXI: um dispositivo GPS.
Membro da tribo Trio, Wuta está a conduzir-me pela floresta tropical perto da sua aldeia no sul do Suriname — a uma hora de voo de Cessna da estrada mais próxima. Na base de uma grande árvore da qual pende uma cascata de lianas, Wuta aponta o seu GPS para o céu: não há sinal. Manipula um botão e alguns minutos depois consegue uma leitura. Indica as coordenadas a um colega cartógrafo Trio que está a seu lado, o qual as anota diligentemente. Wuta continua então a marcha, demonstrando como ele e outros nativos fizeram o levantamento topográfico, a pé ou de canoa, de cerca de 20 milhões de hectares de terra aqui na fronteira norte da Amazónia.
Para evitar serem cilindrados por construtores, rancheiros, madeireiros, mineiros, empresas petrolíferas e biopiratas, tribos através de toda a Bacia Amazónica têm vindo a adquirir ferramentas high tech que lhes permitam defender-se. A maior parte da ajuda neste esforço tem vindo da Equipa de Conservação da Amazónia, uma organização de preservação ambiental e cultural sediada na Virgínia, que forneceu equipamento, experiência cartográfica e assistência financeira. Agora, dúzias de homens como Wuta estão a calcorrear as florestas, fazendo levantamentos topográficos das suas terras com a ajuda de dispositivos GPS portáteis.
Evidentemente, só porque as tribos conseguiram cartografar as terras não significa que controlem todos os direitos legais destas. Mas é um passo nessa direcção. O Suriname usa agora mapas gerados pelos Trio e por outros grupos enquanto documentos governamentais oficiais. No Equador, a tribo Shuar, há muito envolvida num conflito com companhias petrolíferas americanas, recebeu recentemente a titularidade das suas terras comunitárias tal como cartografadas por GPS. A maciça campanha de levantamento topográfico e de delineação de fronteiras outrora imprecisas, levada a cabo por pés calçados de sandálias, deu também às tribos maior confiança para afirmarem os seus interesses — em alguns casos, os nativos expulsaram mineiros ilegais e estabeleceram aldeamentos e postos de vigia nas fronteiras das suas terras.
Em adição â cartografia GPS, as tribos estão a usar o Google Earth com fins de vigilância territorial. As imagens de satélite desta aplicação conseguem identificar ameaças — digamos, a expansão ilegal de uma plantação de soja, ou um rio manchado por efluentes de uma mina de outo. Algumas tribos do Brasil com acesso à Internet estão a marcar as coordenadas de actividades subreptíciais que vêm nas imagens, investigando então a pé ou passando a informação a autoridades governamentais. (…)
— Andy Isaacson, in "With the Help of GPS, Amazonian Tribes Reclaim the Rain Forest", publicado em Wired, via WolrdWebEyes
"O Cálice e a Espada"
[excerto de livro]
(…) No nosso tempo, quando "um amor à paz, horror à tirania e repeito pela lei" poderão ser necessários para a nossa sobrevivência, o interesse que apresentam as diferenças entre o espírito [da civilização minóica] de Creta e o dos seus vizinhos não é meramente académico. Nas cidades cretenses desprovidas de fortificações militares, nas vivendas "desprotegidas" à beira-mar, e na ausência de quaisquer indícios de que as várias cidades-estado da ilha se guerreassem umas às outras, ou se envolvessem em guerras agressivas (em nítido contraste com as cidades amuralhadas e a guerra crónica que eram já a norma no resto do mundo), descobrimos a firme confirmação, oriunda do nosso passsado, de que as esperanças de coexistência pacífica não são, como nos dizem com frequência, "sonhos utópicos". E nas imagens míticas de Creta — a Deusa como Mãe do universo, e os seres humanos, os animais, as plantas, a água e o céu como suas manifestações terrenas — descobrimos a constatação da nossa unicidade com a natureza, um tema que agora emerge também como pré-requisito para a sobrevivência ecológica.
O mais notável talvez, porém, em termos da relação da sociedade com a ideologia, é a arte cretense parecer reflectir, em particular no período minóico mais antigo, uma sociedade na qual o poder não é equacionado em termos de dominação, destruição e opressão. Nas palavras de Jacquetta Hawkes, uma das poucas mulheres a escrever sobre Creta, aqui encontra-se ausente "a ideia do monarca guerreiro triunfando através da humilhação e do massacre do inimigo". Em Creta, onde soberanos venerados, vivendo em esplêndidos palácios, detinham grandes riquezas e poder, não existem praticamente indícios destas manifestações de orgulho masculino e de crueldade cega.
Igualmente espantosa, e reveladora, é a ausência, na arte da Creta minóica, de quaisquer cenas grandiosas de batalhas ou caçadas. "A ausência destas manifestações do soberano masculino todo-poderoso, que por esta altura e nesta fase de desenvolvimento se encontram espalhadas a ponto de serem quase universais," comenta Hawkes, "é uma das razões para supôr que os tronos minóicos possam ter sido ocupados por mulheres". (…)
— Riane Eisler, in O Cálice e a Espada, edição Via Óptima
(…) No nosso tempo, quando "um amor à paz, horror à tirania e repeito pela lei" poderão ser necessários para a nossa sobrevivência, o interesse que apresentam as diferenças entre o espírito [da civilização minóica] de Creta e o dos seus vizinhos não é meramente académico. Nas cidades cretenses desprovidas de fortificações militares, nas vivendas "desprotegidas" à beira-mar, e na ausência de quaisquer indícios de que as várias cidades-estado da ilha se guerreassem umas às outras, ou se envolvessem em guerras agressivas (em nítido contraste com as cidades amuralhadas e a guerra crónica que eram já a norma no resto do mundo), descobrimos a firme confirmação, oriunda do nosso passsado, de que as esperanças de coexistência pacífica não são, como nos dizem com frequência, "sonhos utópicos". E nas imagens míticas de Creta — a Deusa como Mãe do universo, e os seres humanos, os animais, as plantas, a água e o céu como suas manifestações terrenas — descobrimos a constatação da nossa unicidade com a natureza, um tema que agora emerge também como pré-requisito para a sobrevivência ecológica.
O mais notável talvez, porém, em termos da relação da sociedade com a ideologia, é a arte cretense parecer reflectir, em particular no período minóico mais antigo, uma sociedade na qual o poder não é equacionado em termos de dominação, destruição e opressão. Nas palavras de Jacquetta Hawkes, uma das poucas mulheres a escrever sobre Creta, aqui encontra-se ausente "a ideia do monarca guerreiro triunfando através da humilhação e do massacre do inimigo". Em Creta, onde soberanos venerados, vivendo em esplêndidos palácios, detinham grandes riquezas e poder, não existem praticamente indícios destas manifestações de orgulho masculino e de crueldade cega.
Igualmente espantosa, e reveladora, é a ausência, na arte da Creta minóica, de quaisquer cenas grandiosas de batalhas ou caçadas. "A ausência destas manifestações do soberano masculino todo-poderoso, que por esta altura e nesta fase de desenvolvimento se encontram espalhadas a ponto de serem quase universais," comenta Hawkes, "é uma das razões para supôr que os tronos minóicos possam ter sido ocupados por mulheres". (…)
— Riane Eisler, in O Cálice e a Espada, edição Via Óptima
"Por Que Viajamos"
[excerto de ensaio]
Viajamos, inicialmente, para nos perdermos; e viajamos, de seguida, para nos encontrarmos. Viajamos para abrirmos os corações e os olhos, e para aprendermos mais sobre o mundo do que os nossos jornais acomodarão. Viajamos para trazermos o pouco que pudermos, na nossa ignorância e conhecimento, àquelas partes do globo cujas riquezas estão dispersas de forma diferente. E viajamos, em essência, para voltarmos a ser jovens loucos — para abrandarmos o tempo e sermos absorvidos, e apaixonarmo-nos uma vez mais. A beleza de todo este processo terá sido melhor descrita, mesmo antes de as pessoas começarem a voar com frequência, por George Santayana no seu ensaio lapidar, “A Filosofia da Viagem”. Nós "precisamos às vezes," escreveu o filósofo de Harvard, "de escapar para solidões abertas, para a ausência de propósito, para as férias morais de corrermos algum puro perigo, de modo a aguçarmos o gume da vida, a provarmos a dificuldade, e a sermos obrigados a trabalhar desesperadamente, durante um momento, no que quer que seja." (…)
E todavia, para mim, a primeira grande alegria de viajar é simplesmente o luxo de deixar em casa todas as minhas crenças e certezas, e ver tudo o que pensava que sabia sob uma nova luz, e de um ângulo distorcido. Nesse aspecto, até um restaurante Kentucky Fried Chicken (em Beijing) ou a projecção revivalista de uma cópia riscada de "Orquídeas Selvagens" (nos Champs Elysées) pode ser tanto novidade como revelação: Na China, afinal, as pessoas pagarão o salário de uma semana para comer com o Coronel Sanders, e em Paris, Mickey Rourke é considerado o maior actor desde Jerry Lewis.
Se um restaurante mongol nos parece exótico numa pequena cidade do Illinois, daí decorre que um McDonald's pareceria igualmente exótico em Ulan Bator — ou pelo menos igualmente longe de tudo quanto seja esperado. Embora hoje em dia seja moda fazer-se uma distinção entre o "turista" e o "viajante", a verdadeira distinção talvez se encontre entre aqueles que deixam as suas suposições em casa e aqueles que o não fazem: Entre aqueles que o não fazem, um turista é apenas alguém que se queixa, "Aqui nada é como em casa," enquanto um viajante é alguém que resmunga, "Aqui é tudo como no Cairo — ou em Cuzco, ou em Katmandu". É tudo mais ou menos a mesma coisa. (…)
De modo que viajar, para muitos de nós, é uma demanda não apenas do desconhecido, mas daquilo que não se pode conhecer. Eu, pelo menos, viajo em busca de um olhar inocente que me possa fazer regressar a um estado mais inocente. Tenho tendência a acreditar mais quando estou no estrangeiro do que quando estou em casa (o que, embora seja também traiçoeiro, pode pelo menos ajudar-me a ampliar a minha visão), e tenho tendência a excitar-me mais facilmente no estrangeiro, e mesmo a ser mais amável. E, dado que ninguém com quem travo conhecimento me consegue "situar" — ninguém consegue encaixar-me no meu currículo —, posso refazer-me para melhor, bem como, evidentemente, para pior (se a viagem é notoriamente um berço para identidades falsas, pode também, no seu melhor, ser um crucíbulo para identidades mais verdadeiras.) Deste modo, viajar pode ser uma espécie de monasticismo em movimento: Na estrada, é frequente vivermos com mais simplicidade (mesmo quando ficamos num hotel de luxo), sem mais possessões do que as que conseguimos transportar, enquanto nos rendemos ao acaso.
Era a isto que Camus se referia quando disse que "o que dá valor à viagem é o medo" — por outras palavras, a perturbação (ou emancipação) da circunstância, e de todos os hábitos por trás dos quais nos escondemos. É é por isso que tantos de nós viajam não em busca de respostas, mas de perguntas melhores. Eu, tal como muita gente, tenho tendência a questionar os lugares que visito, e saboreio melhor aqueles que me respondem com as questões mais inquisitivas sobre mim: No Paraguai, por exemplo, onde um carro em cada dois é roubado, e dois terços dos artigos à venda são de contrabando, devo repensar todas as minhas suposições californianas. E na Tailândia, onde muitas jovens prescindem dos corpos de modo a proteger as famílias — para se tornarem melhores budistas —, devo questionar os meus julgamentos demasiado prontos. "O livro ideal de viagens," disse certa vez Christopher Isherwood, “deveria ser talvez um pouco como uma história policial na qual estamos à procura de algo". E trata-se da melhor espécie de algo, acrescentaria eu, se for um algo que jamais conseguiremos encontrar. (…)
— Pico Iyer, in "Why We Travel", publicado em World Hum
Viajamos, inicialmente, para nos perdermos; e viajamos, de seguida, para nos encontrarmos. Viajamos para abrirmos os corações e os olhos, e para aprendermos mais sobre o mundo do que os nossos jornais acomodarão. Viajamos para trazermos o pouco que pudermos, na nossa ignorância e conhecimento, àquelas partes do globo cujas riquezas estão dispersas de forma diferente. E viajamos, em essência, para voltarmos a ser jovens loucos — para abrandarmos o tempo e sermos absorvidos, e apaixonarmo-nos uma vez mais. A beleza de todo este processo terá sido melhor descrita, mesmo antes de as pessoas começarem a voar com frequência, por George Santayana no seu ensaio lapidar, “A Filosofia da Viagem”. Nós "precisamos às vezes," escreveu o filósofo de Harvard, "de escapar para solidões abertas, para a ausência de propósito, para as férias morais de corrermos algum puro perigo, de modo a aguçarmos o gume da vida, a provarmos a dificuldade, e a sermos obrigados a trabalhar desesperadamente, durante um momento, no que quer que seja." (…)
E todavia, para mim, a primeira grande alegria de viajar é simplesmente o luxo de deixar em casa todas as minhas crenças e certezas, e ver tudo o que pensava que sabia sob uma nova luz, e de um ângulo distorcido. Nesse aspecto, até um restaurante Kentucky Fried Chicken (em Beijing) ou a projecção revivalista de uma cópia riscada de "Orquídeas Selvagens" (nos Champs Elysées) pode ser tanto novidade como revelação: Na China, afinal, as pessoas pagarão o salário de uma semana para comer com o Coronel Sanders, e em Paris, Mickey Rourke é considerado o maior actor desde Jerry Lewis.
Se um restaurante mongol nos parece exótico numa pequena cidade do Illinois, daí decorre que um McDonald's pareceria igualmente exótico em Ulan Bator — ou pelo menos igualmente longe de tudo quanto seja esperado. Embora hoje em dia seja moda fazer-se uma distinção entre o "turista" e o "viajante", a verdadeira distinção talvez se encontre entre aqueles que deixam as suas suposições em casa e aqueles que o não fazem: Entre aqueles que o não fazem, um turista é apenas alguém que se queixa, "Aqui nada é como em casa," enquanto um viajante é alguém que resmunga, "Aqui é tudo como no Cairo — ou em Cuzco, ou em Katmandu". É tudo mais ou menos a mesma coisa. (…)
De modo que viajar, para muitos de nós, é uma demanda não apenas do desconhecido, mas daquilo que não se pode conhecer. Eu, pelo menos, viajo em busca de um olhar inocente que me possa fazer regressar a um estado mais inocente. Tenho tendência a acreditar mais quando estou no estrangeiro do que quando estou em casa (o que, embora seja também traiçoeiro, pode pelo menos ajudar-me a ampliar a minha visão), e tenho tendência a excitar-me mais facilmente no estrangeiro, e mesmo a ser mais amável. E, dado que ninguém com quem travo conhecimento me consegue "situar" — ninguém consegue encaixar-me no meu currículo —, posso refazer-me para melhor, bem como, evidentemente, para pior (se a viagem é notoriamente um berço para identidades falsas, pode também, no seu melhor, ser um crucíbulo para identidades mais verdadeiras.) Deste modo, viajar pode ser uma espécie de monasticismo em movimento: Na estrada, é frequente vivermos com mais simplicidade (mesmo quando ficamos num hotel de luxo), sem mais possessões do que as que conseguimos transportar, enquanto nos rendemos ao acaso.
Era a isto que Camus se referia quando disse que "o que dá valor à viagem é o medo" — por outras palavras, a perturbação (ou emancipação) da circunstância, e de todos os hábitos por trás dos quais nos escondemos. É é por isso que tantos de nós viajam não em busca de respostas, mas de perguntas melhores. Eu, tal como muita gente, tenho tendência a questionar os lugares que visito, e saboreio melhor aqueles que me respondem com as questões mais inquisitivas sobre mim: No Paraguai, por exemplo, onde um carro em cada dois é roubado, e dois terços dos artigos à venda são de contrabando, devo repensar todas as minhas suposições californianas. E na Tailândia, onde muitas jovens prescindem dos corpos de modo a proteger as famílias — para se tornarem melhores budistas —, devo questionar os meus julgamentos demasiado prontos. "O livro ideal de viagens," disse certa vez Christopher Isherwood, “deveria ser talvez um pouco como uma história policial na qual estamos à procura de algo". E trata-se da melhor espécie de algo, acrescentaria eu, se for um algo que jamais conseguiremos encontrar. (…)
— Pico Iyer, in "Why We Travel", publicado em World Hum
"Um Clima de Negócios"
[excerto de artigo]
A única forma de o aquecimento global poder ser "vendido" às pessoas do Ocidente é enquanto oportunidade de negócios. Do mesmo passo, as tecnologias verdes, através das quais todos ficaremos mais ricos, salvarão o planeta. Quem poderia alguma vez discordar desta situação "todos ganham"? Nenhum outro apelo carrega uma convicção equivalente. Donde que todo o debate sobre a alteração do nosso "modo de vida" deva ser subordinado ao potencial revolucionário de tecnologias futuristas, que, miraculosamente, nos salvarão dos efeitos dos anteriores milagres da tecnologia que nos trouxeram até este impasse.
Há muito que o mundo natural foi usurpado pela tecnoesfera, tal como sugere uma linguagem de conquista imperial: o clima dos negócios, ambiente económico, a atmosfera para o investimento, tsunamis financeiros, tempestades, calmarias e depressões económicas — todos eclipsam os elementos que sustentam a vida. É inevitável que devamos procurar a salvação nos negócios. E, de momento, os proponentes dos negócios universais têm alguns aliados inesperados: subitamente, os carpidores do apocalipse estão todos do lado dos místicos empresariais que conhecem a arte de sairmos da ruína fazendo compras.
A nossa melhor esperança seria desacoplarmo-nos das melancólicas regras do mercado, ao invés de dependermos crescentemente do mecanismo que criou o espectro de um planeta dessicado em alguns lugares, submerso noutros. Que isto não mais seja possível é um amargo comentário sobre os limites de uma liberdade que, sem aparentemente ninguém reparar, foi diminuída ao ser trocada por riqueza, em especial a liberdade de fazer as coisas de forma diferente, de alterar férreas leis económicas, de imaginar outros modos de viver, talvez mais austeros talvez mas talvez também mais alegres e menos destrutivos do único habitat que temos, pelo menos até os planetas terem sido colonizados tal como foram os continentes outrora remotos.
Os idealistas e utopistas foram amiúde criticados pelo seu aparente abandono do "mundo real". Mas o que poderia ser mais utópico do que a ideia de um mercado auto-regulador, uma entidade enorme que foi libertada da sociedade há 200 anos, baixo o sinistro e determinista estandarte da qual toda a humanidade deve agora encontrar a sua sorte? Estamos a viver com as consequências dessa ocorrência distante, a qual durante dois séculos celebrou o triunfo do mercado sobre a sociedade. (…)
Uma tal aproximação poderá ser impossível. Mas ela demonstra a tenacidade da fé — e a crença nas forças do mercado atingiu um estatuto aproximando-se de um culto, se não mesmo de uma verdadeira religião. Mostra também como a fé não é enfraquecida, sendo ao invés reforçada, por evidência desconfirmadora. Aquilo a que estamos a assistir, por entre a exaltação da congregação de bien-pensants em Copenhague, é ao endurecimento de ainda outro fundamentalismo, num mundo que já viu exemplos demais dele. Se os "negadores do aquecimento global" são desprezados, é por tornarem explícita a ideologia que está de facto a ser conservada por trás da retórica revolucionária em Copenhague. Está-se a lidar ferozmente com os cépticos do aquecimento global porque eles revelam aquilo que devia estar escondido — que o objectivo é um retomar do business-as-usual do capitalismo universal sob o manto benigno da energia verde. Os cépticos atingem o estatuto de herejes e desmancha-prazeres porque deixaram o gato sair do saco ecológico. (…)
— Jeremy Seabrook, in "A Business Climate", publicado em The New Internationalist
A única forma de o aquecimento global poder ser "vendido" às pessoas do Ocidente é enquanto oportunidade de negócios. Do mesmo passo, as tecnologias verdes, através das quais todos ficaremos mais ricos, salvarão o planeta. Quem poderia alguma vez discordar desta situação "todos ganham"? Nenhum outro apelo carrega uma convicção equivalente. Donde que todo o debate sobre a alteração do nosso "modo de vida" deva ser subordinado ao potencial revolucionário de tecnologias futuristas, que, miraculosamente, nos salvarão dos efeitos dos anteriores milagres da tecnologia que nos trouxeram até este impasse.
Há muito que o mundo natural foi usurpado pela tecnoesfera, tal como sugere uma linguagem de conquista imperial: o clima dos negócios, ambiente económico, a atmosfera para o investimento, tsunamis financeiros, tempestades, calmarias e depressões económicas — todos eclipsam os elementos que sustentam a vida. É inevitável que devamos procurar a salvação nos negócios. E, de momento, os proponentes dos negócios universais têm alguns aliados inesperados: subitamente, os carpidores do apocalipse estão todos do lado dos místicos empresariais que conhecem a arte de sairmos da ruína fazendo compras.
A nossa melhor esperança seria desacoplarmo-nos das melancólicas regras do mercado, ao invés de dependermos crescentemente do mecanismo que criou o espectro de um planeta dessicado em alguns lugares, submerso noutros. Que isto não mais seja possível é um amargo comentário sobre os limites de uma liberdade que, sem aparentemente ninguém reparar, foi diminuída ao ser trocada por riqueza, em especial a liberdade de fazer as coisas de forma diferente, de alterar férreas leis económicas, de imaginar outros modos de viver, talvez mais austeros talvez mas talvez também mais alegres e menos destrutivos do único habitat que temos, pelo menos até os planetas terem sido colonizados tal como foram os continentes outrora remotos.
Os idealistas e utopistas foram amiúde criticados pelo seu aparente abandono do "mundo real". Mas o que poderia ser mais utópico do que a ideia de um mercado auto-regulador, uma entidade enorme que foi libertada da sociedade há 200 anos, baixo o sinistro e determinista estandarte da qual toda a humanidade deve agora encontrar a sua sorte? Estamos a viver com as consequências dessa ocorrência distante, a qual durante dois séculos celebrou o triunfo do mercado sobre a sociedade. (…)
Uma tal aproximação poderá ser impossível. Mas ela demonstra a tenacidade da fé — e a crença nas forças do mercado atingiu um estatuto aproximando-se de um culto, se não mesmo de uma verdadeira religião. Mostra também como a fé não é enfraquecida, sendo ao invés reforçada, por evidência desconfirmadora. Aquilo a que estamos a assistir, por entre a exaltação da congregação de bien-pensants em Copenhague, é ao endurecimento de ainda outro fundamentalismo, num mundo que já viu exemplos demais dele. Se os "negadores do aquecimento global" são desprezados, é por tornarem explícita a ideologia que está de facto a ser conservada por trás da retórica revolucionária em Copenhague. Está-se a lidar ferozmente com os cépticos do aquecimento global porque eles revelam aquilo que devia estar escondido — que o objectivo é um retomar do business-as-usual do capitalismo universal sob o manto benigno da energia verde. Os cépticos atingem o estatuto de herejes e desmancha-prazeres porque deixaram o gato sair do saco ecológico. (…)
— Jeremy Seabrook, in "A Business Climate", publicado em The New Internationalist
Etiquetas:
alterações climáticas,
ambiente,
aquecimento global
"O Regresso dos Fungos"
[excerto de artigo]
Nas florestas primordiais do Pacífico Noroeste cresce um cogumelo bolboso de ar pré-histórico chamado agárico [Fomitopsis officinalis]. Prefere colonizar abetos de Douglas centenários, crescendo para fora dos seus troncos como uma feia verruga num dedo. Quando conheci Paul Stamets, um micólogo que passou mais de três décadas a colher, a estudar e a tripar em cogumelos, ele descobrira apenas dois destes fungos invulgares, de cada vez acidentalmente — ou, como poderia dizer, por intervenção divina.
Stamets acredita que decifrar os segredos do agárico poderá ser tão importante para o futuro da saúde humana quanto a descoberta por Alexander Fleming, há mais de 80 anos, das propriedades antibióticas do bolor penicillium. De modo que, num ensolarado dia de Julho, Stamets está de partida para uma viagem ao longo das ilhas costeiras da Colúmbia Britânica meridional, na esperança de ensacar mais alguns dos fungos ameaçados, antes que a desflorestação ou as alterações climáticas mudem irreparavelmente os ecossistemas que são o seu lar. O agárico poderá estar pronto a salvar-nos — mas primeiro poderemos ter de o salvar a ele. (…)
Alguns meses antes, o Instituto para a Investigação da Tuberculose, da Universidade de Illinois-Chicago, enviou a Stamets a análise que fizera de uma dúzia de estirpres de agárico que ele cultivara no seu laboratório. O Instituto descobriu que o fungo era extraordinariamente activo contra a XDR-TB, um tipo raro de tuberculose que é resistente mesmo aos mais eficazes tratamentos farmacêuticos. O Projecto Escudo Biológico, o programa de biodefesa do Departamento da Saúde e de Serviços Humanos, descobriu que o agárico é altamente resistente a muitos vírus de gripe, incluindo, quando combinado com outros cogumelos, a gripe das aves. E uma semana antes da viagem, o Centro Nacional para a Investigação de Produtos Naturais, um laboratório financiado com verbas federais na Universidade do Mississipi, concluiu que o fungo mostrava resistência a vírus ortodoxos, incluindo a varíola — sem qualquer toxicidade aparente. (…) Actualmente, o agárico está a ser testado para ver se pode também combater o vírus suíno H1N1.
"Quando referimos os cogumelos às pessoas, elas pensam em cogumelos mágicos ou comestíveis. Reviram os olhos," lamenta Stamets. Que um simples e humilde fungo possa lutar contra doenças virulentas como a varíola e a tuberculose poderá parecer estranho, até percebermos que, embora o reino animal se tenha separado do reino dos fungos há cerca de 650 milhões de anos, os seres humanos e os fungos partilham ainda quase metade do seu ADN, e são susceptíveis a muitas das mesmas infecções. (Referir-se aos fungos como "os nossos antepassados" é um dos muitos biscoitos retóricos com que Stamets gosta de alimentar os seus públicos.) (…)
As experiências de Stamets geraram muitas descobertas surpreendentes sobre os cogumelos e o micélio, a rede semelhante a teias de aranha, amiúde oculta, que os gera. Ele demonstrou que o micélio do cogumelo-ostra pode restaurar mais eficazmente os solos poluídos por petróleo do que os tratamentos convencionais; numa experiência de oito semanas, o fungo decompôs 95 por cento dos hidrocarbonetos numa faixa de terra ensopada com óleo diesel. Usou sacos de aparas de madeira inoculados com micélio-ostra como filtros para proteger habitats fluviais de poluentes tais como pesticidas agrícolas contaminados com bactérias coliformes. Recentemente, provou que podia produzir-se etanol celulósico com açúcares extraídos de fungos em decomposição.
Insistindo ser apenas uma "voz do micélio", Stamets diz que não pode realmente assumir o crédito pelas suas descobertas sobre um reino extraordinariamente diverso e evolutivamente bem sucedido que a ciência moderna praticamente não explorou. Todavia, ao longo dos últimos quatro anos, requereu vinte e duas patentes e quatro foram-lhe outorgadas. "Estou a lutar contra as malvadas empresas farmacêuticas, e elas tentarão roubar-nos. Não tenho ilusões quanto a isto," diz. "É verdadeiramente uma situação de David contra Golias". (…)
— Andy Isaacson, in "Return of the Fungi", publicado em Mother Jones
Nas florestas primordiais do Pacífico Noroeste cresce um cogumelo bolboso de ar pré-histórico chamado agárico [Fomitopsis officinalis]. Prefere colonizar abetos de Douglas centenários, crescendo para fora dos seus troncos como uma feia verruga num dedo. Quando conheci Paul Stamets, um micólogo que passou mais de três décadas a colher, a estudar e a tripar em cogumelos, ele descobrira apenas dois destes fungos invulgares, de cada vez acidentalmente — ou, como poderia dizer, por intervenção divina.
Stamets acredita que decifrar os segredos do agárico poderá ser tão importante para o futuro da saúde humana quanto a descoberta por Alexander Fleming, há mais de 80 anos, das propriedades antibióticas do bolor penicillium. De modo que, num ensolarado dia de Julho, Stamets está de partida para uma viagem ao longo das ilhas costeiras da Colúmbia Britânica meridional, na esperança de ensacar mais alguns dos fungos ameaçados, antes que a desflorestação ou as alterações climáticas mudem irreparavelmente os ecossistemas que são o seu lar. O agárico poderá estar pronto a salvar-nos — mas primeiro poderemos ter de o salvar a ele. (…)
Alguns meses antes, o Instituto para a Investigação da Tuberculose, da Universidade de Illinois-Chicago, enviou a Stamets a análise que fizera de uma dúzia de estirpres de agárico que ele cultivara no seu laboratório. O Instituto descobriu que o fungo era extraordinariamente activo contra a XDR-TB, um tipo raro de tuberculose que é resistente mesmo aos mais eficazes tratamentos farmacêuticos. O Projecto Escudo Biológico, o programa de biodefesa do Departamento da Saúde e de Serviços Humanos, descobriu que o agárico é altamente resistente a muitos vírus de gripe, incluindo, quando combinado com outros cogumelos, a gripe das aves. E uma semana antes da viagem, o Centro Nacional para a Investigação de Produtos Naturais, um laboratório financiado com verbas federais na Universidade do Mississipi, concluiu que o fungo mostrava resistência a vírus ortodoxos, incluindo a varíola — sem qualquer toxicidade aparente. (…) Actualmente, o agárico está a ser testado para ver se pode também combater o vírus suíno H1N1.
"Quando referimos os cogumelos às pessoas, elas pensam em cogumelos mágicos ou comestíveis. Reviram os olhos," lamenta Stamets. Que um simples e humilde fungo possa lutar contra doenças virulentas como a varíola e a tuberculose poderá parecer estranho, até percebermos que, embora o reino animal se tenha separado do reino dos fungos há cerca de 650 milhões de anos, os seres humanos e os fungos partilham ainda quase metade do seu ADN, e são susceptíveis a muitas das mesmas infecções. (Referir-se aos fungos como "os nossos antepassados" é um dos muitos biscoitos retóricos com que Stamets gosta de alimentar os seus públicos.) (…)
As experiências de Stamets geraram muitas descobertas surpreendentes sobre os cogumelos e o micélio, a rede semelhante a teias de aranha, amiúde oculta, que os gera. Ele demonstrou que o micélio do cogumelo-ostra pode restaurar mais eficazmente os solos poluídos por petróleo do que os tratamentos convencionais; numa experiência de oito semanas, o fungo decompôs 95 por cento dos hidrocarbonetos numa faixa de terra ensopada com óleo diesel. Usou sacos de aparas de madeira inoculados com micélio-ostra como filtros para proteger habitats fluviais de poluentes tais como pesticidas agrícolas contaminados com bactérias coliformes. Recentemente, provou que podia produzir-se etanol celulósico com açúcares extraídos de fungos em decomposição.
Insistindo ser apenas uma "voz do micélio", Stamets diz que não pode realmente assumir o crédito pelas suas descobertas sobre um reino extraordinariamente diverso e evolutivamente bem sucedido que a ciência moderna praticamente não explorou. Todavia, ao longo dos últimos quatro anos, requereu vinte e duas patentes e quatro foram-lhe outorgadas. "Estou a lutar contra as malvadas empresas farmacêuticas, e elas tentarão roubar-nos. Não tenho ilusões quanto a isto," diz. "É verdadeiramente uma situação de David contra Golias". (…)
— Andy Isaacson, in "Return of the Fungi", publicado em Mother Jones
"Dinheiro de Drogas Salvou Bancos na Crise Mundial"
[excerto de notícia]
Ao debaterem-se com um severo abalo fnanceiro, os bancos absorveram milhares de milhões de dólares de dinheiro de drogas, diz António Maria Costa, director do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime [UNODC na sigla em inglês].
Costa disse ao Observer que o dinheiro de drogas "salvou os bancos do colapso" no auge da crise financeira global, informou no domingo o Daily Mail.
O director do UNODC disse que havia sinais de alguns bancos terem sido resgatados por milhares de milhões de dólares que "tinham origem no comércio de drogas e noutras actividades ilegais".
Falando do seu escritório em Viena, Costa referiu-se ao problema enfrentado por muitos bancos na segunda metade de 2008, ao verem-se incapazes de fazer empréstimos mútuos.
"O sistema estava basicamente paralisado devido à indisponibilidade dos bancos para emprestar dinheiro uns aos outros," disse ao jornal.
Os analistas sustentam que na sequência do colapso do banco de investimentos Lehman Brothers em Setembro de 2008, o sistema de mercado interbancário ficou também paralisado e deixou de conseguir manter o fluxo constante de liquidez para os bancos.
Isto, afirmam, abriu caminho para os bancos absorverem dinheiro de drogas, que veio em salvação de alguns deles.
Costa assinalou a existência de indícios sustentando a ideia de que os rendimentos do crime organizado eram o "único investimento de capital líquido" disponível para alguns bancos que no ano passado estavam à beira do colapso.
As Nações Unidas estimam que os barões e os cartéis internacionais da droga encaixam anualmente mais de 300 mil milhões de dólares. (…)
— "Drug money saved banks in global crisis, claims UN advisor", publicado em The Intelligence Daily
Ao debaterem-se com um severo abalo fnanceiro, os bancos absorveram milhares de milhões de dólares de dinheiro de drogas, diz António Maria Costa, director do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime [UNODC na sigla em inglês].
Costa disse ao Observer que o dinheiro de drogas "salvou os bancos do colapso" no auge da crise financeira global, informou no domingo o Daily Mail.
O director do UNODC disse que havia sinais de alguns bancos terem sido resgatados por milhares de milhões de dólares que "tinham origem no comércio de drogas e noutras actividades ilegais".
Falando do seu escritório em Viena, Costa referiu-se ao problema enfrentado por muitos bancos na segunda metade de 2008, ao verem-se incapazes de fazer empréstimos mútuos.
"O sistema estava basicamente paralisado devido à indisponibilidade dos bancos para emprestar dinheiro uns aos outros," disse ao jornal.
Os analistas sustentam que na sequência do colapso do banco de investimentos Lehman Brothers em Setembro de 2008, o sistema de mercado interbancário ficou também paralisado e deixou de conseguir manter o fluxo constante de liquidez para os bancos.
Isto, afirmam, abriu caminho para os bancos absorverem dinheiro de drogas, que veio em salvação de alguns deles.
Costa assinalou a existência de indícios sustentando a ideia de que os rendimentos do crime organizado eram o "único investimento de capital líquido" disponível para alguns bancos que no ano passado estavam à beira do colapso.
As Nações Unidas estimam que os barões e os cartéis internacionais da droga encaixam anualmente mais de 300 mil milhões de dólares. (…)
— "Drug money saved banks in global crisis, claims UN advisor", publicado em The Intelligence Daily
"Uma Partícula que Deus Não Quer que Descubramos?"
[excerto de artigo]
Explosões, cientistas detidos por alegado terrorismo, avarias misteriosas — recentemente, o Grande Colisor de Hadrões (LHC [na sigla em inglês]) do CERN [Centro Europeu de Pesquisa Nuclear] começou a assemelhar-se à experiência mais azarada do mundo.
Será apenas falta de sorte ou algo mais estranho está a obrar? Especulações que tais pertencem em geral à franja lunática, mas cientistas sérios começaram a sugerir que a frequência de acidentes e problemas no CERN é muito mais do que uma coincidência.
O LHC, sugerem, poderá estar a sabotar-se a si próprio a partir do futuro — distorcendo o tempo de modo a gerar uma série de revezes científicos que impedirão a máquina de cumprir o seu destino.
À primeira vista, esta teoria encaixa confortávelmente na tradição amalucada consistindo em ligar o arranque do LHC a desastres terríveis. A mais conhecida é a possibilidade de o acelerador de partículas, que custou 1,7 mil milhões de euros, desencadear um buraco negro capaz de engolir a Terra quando começar a funcionar. Os cientistas gostam de rir desta ideia.
Desta vez, porém, a ridicularização pelos cientistas tem sido bastante mais discreta — porque a ideia da viagem no tempo proveio de dois cientistas distintos que a sustentaram com matemática rigorosa.
O que Holger Bech Nielsen, do Instituto Niels Bohr em Copenhague, e Masao Ninomiya, do Instituto de Física Teórica de Yukawa em Quioto, estão a sugerir é que o bosão de Higgs, a partícula que os físicos esperam produzir com o colisor, poderá ser "repulsivo para a natureza".
O que significa isso? Segundo Nielsen, significa que a criação do bosão em alguma altura do futuro provocaria ondulações retroactivas através do tempo, de modo a deter o que quer que o tivesse criado inicialmente.
Isto, diz Nielsen, poderia explicar a razão por que o LHC foi atingido por contratempos indo de uma explosão durante a construção até um segundo big bang que se seguiu ao seu arranque. É incerto se a recente detenção de um físico proeminente, por alegadas ligações à Al Qaida, também conta.
A ideia de Nielsen foi comparada à de um homem viajando para trás no tempo e matando o seu avô. "A nossa teoria sugere que qualquer máquina que tente fazer o Higgs terá má sorte," disse.
"A teoria tem uma base matemática, mas é possível explicá-la dizendo que Deus odeia as partículas de Higgs e tenta evitá-las". (…)
— Cosmo, in "A particle God doesn’t want us to discover?", publicado em Brainwaving
Explosões, cientistas detidos por alegado terrorismo, avarias misteriosas — recentemente, o Grande Colisor de Hadrões (LHC [na sigla em inglês]) do CERN [Centro Europeu de Pesquisa Nuclear] começou a assemelhar-se à experiência mais azarada do mundo.
Será apenas falta de sorte ou algo mais estranho está a obrar? Especulações que tais pertencem em geral à franja lunática, mas cientistas sérios começaram a sugerir que a frequência de acidentes e problemas no CERN é muito mais do que uma coincidência.
O LHC, sugerem, poderá estar a sabotar-se a si próprio a partir do futuro — distorcendo o tempo de modo a gerar uma série de revezes científicos que impedirão a máquina de cumprir o seu destino.
À primeira vista, esta teoria encaixa confortávelmente na tradição amalucada consistindo em ligar o arranque do LHC a desastres terríveis. A mais conhecida é a possibilidade de o acelerador de partículas, que custou 1,7 mil milhões de euros, desencadear um buraco negro capaz de engolir a Terra quando começar a funcionar. Os cientistas gostam de rir desta ideia.
Desta vez, porém, a ridicularização pelos cientistas tem sido bastante mais discreta — porque a ideia da viagem no tempo proveio de dois cientistas distintos que a sustentaram com matemática rigorosa.
O que Holger Bech Nielsen, do Instituto Niels Bohr em Copenhague, e Masao Ninomiya, do Instituto de Física Teórica de Yukawa em Quioto, estão a sugerir é que o bosão de Higgs, a partícula que os físicos esperam produzir com o colisor, poderá ser "repulsivo para a natureza".
O que significa isso? Segundo Nielsen, significa que a criação do bosão em alguma altura do futuro provocaria ondulações retroactivas através do tempo, de modo a deter o que quer que o tivesse criado inicialmente.
Isto, diz Nielsen, poderia explicar a razão por que o LHC foi atingido por contratempos indo de uma explosão durante a construção até um segundo big bang que se seguiu ao seu arranque. É incerto se a recente detenção de um físico proeminente, por alegadas ligações à Al Qaida, também conta.
A ideia de Nielsen foi comparada à de um homem viajando para trás no tempo e matando o seu avô. "A nossa teoria sugere que qualquer máquina que tente fazer o Higgs terá má sorte," disse.
"A teoria tem uma base matemática, mas é possível explicá-la dizendo que Deus odeia as partículas de Higgs e tenta evitá-las". (…)
— Cosmo, in "A particle God doesn’t want us to discover?", publicado em Brainwaving
Etiquetas:
bosão de higgs,
CERN,
deus,
física,
LHC
"Escutando os Elefantes"
[excerto de artigo]
(…) Pouco tempo após o 11 de Setembro, a minha mulher, Marie, e eu fomos de novo ao norte do Quénia, para visitar os Turkana, os quais insistem que as secas só se manifestaram desde a primeira aparição do homem branco na África Oriental. Um curandeiro — um vidente — disse-nos, "Nos velhos tempos, havia sempre chuva e os Turkana viviam em paz". Hoje, as chuvas já não chegam quando costumavam. Os Turkana acreditam que o elefante se encontra junto a Deus e que o avistamento de um elefante assinala a iminência de chuva. (…) Hoje, muitos Turkana acreditam que a falta de elefantes no norte, devido à caça furtiva, é um augúrio de que a chuva não virá. As recentes secas — que se contam entre as piores em décadas — poderão ser parcialmente explicadas pelo quase completo desaparecimento do reverenciado elefante da Terra Turkana?
Os Samburu do Quénia acreditam que, tal como os videntes que conseguem prever a chuva, o elefante sabe quando esta está a chegar. A aparição súbita de elefantes após muitos meses de seca sugere que a chuva vem a caminho. Como sabem os elefantes que as chuvas se aproximam é um segredo que mesmo os videntes desconhecem. Esse conhecimento é da ordem de outra língua.
Foi dos pastoralistas Samburu, cuja relação com o elefante é talvez única em África, que conseguimos descortinar parte de uma aliança sagrada e notável. Após muitas viagens a África, em Setembro de 2007 Marie e eu levamos o nosso filho, Lysander, a tocar o solo de África pela primeira vez. Disse-nos Pacquo, um ancião Samburu do Quénia central, que durante o auge do massacre dos elefantes há trinta anos atrás, uma manada de trinta ou mais elefantes órfãos, que tinham perdido a família inteira, de algum modo conseguiram chegar ao território Samburu, tendo viajado durante dias para alcançar uma aldeia onde lhes foi concedido santuário. Hoje, a manada remanescente de elefantes da Cordilheira Matthews deve-se à compaixão dos Samburu e ao seu reconhecimento de que o elefante é uma extensão do seu próprio ser. Na verdade, os Samburu, bem como os Masai, têm um conceito — tenebo — que encara a coerência da dinâmica familiar dos elefantes como um modelo para as interrelações humanas. (…)
Hoje, a humanidade precisa de se virar para os elefantes para ouvir uma voz singular, uma mente que evoluiu connosco e nos influenciou em termos biológicos, culturais e míticos durante toda a nossa evolução. O trauma que os elefantes experimentaram ao longo das últimas décadas não é completamente mensurável pela humanidade. Na verdade, apenas algumas pessoas conseguiram romper o fosso humano/não-humano de modo a insistir que os elefantes — ao matarem aldeões na Índia e no Sri Lanka, ao violarem rinocerontes tal como fizeram na África do Sul, e ao exibirem a desordem do stress pós-traumático como documentado pelo psicólogo Gay Bradshaw — estão a exibir sintomas de uma doença muito maior: o colapso não apenas do habitat e da estrutura familiar, mas também da mente através de toda uma espécie. Este colapso é sintomático da desagregação da natureza tal como a temos conhecido. O laço insubstituível que temos tido com o elefante é uma aliança que precisamos de salvar não apenas em prol do futuro do elefante mas também do nosso.
— Cyril Christo, in "Gray Thunder: Listening to Elephants", publicado em Orion Magazine
(…) Pouco tempo após o 11 de Setembro, a minha mulher, Marie, e eu fomos de novo ao norte do Quénia, para visitar os Turkana, os quais insistem que as secas só se manifestaram desde a primeira aparição do homem branco na África Oriental. Um curandeiro — um vidente — disse-nos, "Nos velhos tempos, havia sempre chuva e os Turkana viviam em paz". Hoje, as chuvas já não chegam quando costumavam. Os Turkana acreditam que o elefante se encontra junto a Deus e que o avistamento de um elefante assinala a iminência de chuva. (…) Hoje, muitos Turkana acreditam que a falta de elefantes no norte, devido à caça furtiva, é um augúrio de que a chuva não virá. As recentes secas — que se contam entre as piores em décadas — poderão ser parcialmente explicadas pelo quase completo desaparecimento do reverenciado elefante da Terra Turkana?
Os Samburu do Quénia acreditam que, tal como os videntes que conseguem prever a chuva, o elefante sabe quando esta está a chegar. A aparição súbita de elefantes após muitos meses de seca sugere que a chuva vem a caminho. Como sabem os elefantes que as chuvas se aproximam é um segredo que mesmo os videntes desconhecem. Esse conhecimento é da ordem de outra língua.
Foi dos pastoralistas Samburu, cuja relação com o elefante é talvez única em África, que conseguimos descortinar parte de uma aliança sagrada e notável. Após muitas viagens a África, em Setembro de 2007 Marie e eu levamos o nosso filho, Lysander, a tocar o solo de África pela primeira vez. Disse-nos Pacquo, um ancião Samburu do Quénia central, que durante o auge do massacre dos elefantes há trinta anos atrás, uma manada de trinta ou mais elefantes órfãos, que tinham perdido a família inteira, de algum modo conseguiram chegar ao território Samburu, tendo viajado durante dias para alcançar uma aldeia onde lhes foi concedido santuário. Hoje, a manada remanescente de elefantes da Cordilheira Matthews deve-se à compaixão dos Samburu e ao seu reconhecimento de que o elefante é uma extensão do seu próprio ser. Na verdade, os Samburu, bem como os Masai, têm um conceito — tenebo — que encara a coerência da dinâmica familiar dos elefantes como um modelo para as interrelações humanas. (…)
Hoje, a humanidade precisa de se virar para os elefantes para ouvir uma voz singular, uma mente que evoluiu connosco e nos influenciou em termos biológicos, culturais e míticos durante toda a nossa evolução. O trauma que os elefantes experimentaram ao longo das últimas décadas não é completamente mensurável pela humanidade. Na verdade, apenas algumas pessoas conseguiram romper o fosso humano/não-humano de modo a insistir que os elefantes — ao matarem aldeões na Índia e no Sri Lanka, ao violarem rinocerontes tal como fizeram na África do Sul, e ao exibirem a desordem do stress pós-traumático como documentado pelo psicólogo Gay Bradshaw — estão a exibir sintomas de uma doença muito maior: o colapso não apenas do habitat e da estrutura familiar, mas também da mente através de toda uma espécie. Este colapso é sintomático da desagregação da natureza tal como a temos conhecido. O laço insubstituível que temos tido com o elefante é uma aliança que precisamos de salvar não apenas em prol do futuro do elefante mas também do nosso.
— Cyril Christo, in "Gray Thunder: Listening to Elephants", publicado em Orion Magazine
"A Grande Muralha da Facebook"
[excerto de artigo]
(…) a rivalidade Google-Facebook não apenas se mantém intensa, ela evoluiu para uma batalha em grande escala sobre o futuro da Internet — a sua estrutura, design e utilidade. No decurso da última década, a Web foi definida pelos algoritmos da Google — equações rigorosas e eficientes que analisam praticamente cada byte de actividade online, de modo a construir um desapaixonado atlas do mundo online. Mark Zuckerberg, o presidente da Facebook, imagina uma Web mais personalizada e humanizada, onde a nossa rede de amigos, colegas, pares e familiares é a nossa fonte primária de informação, exactamente tal como é offline. Na visão de Zuckerberg, os utilizadores inquirirão este "gráfico social" para encontrar um médico, a melhor câmara fotográfica ou alguém para contratar — em vez de recorrerem à matemática fria de uma pesquisa Google. É um repensar completo do modo como navegamos no mundo online, que coloca a Facebook mesmo no centro. Por outras palavras, onde está agora a Google. (…)
Para compreendeer o desafio que a Facebook lança à Google, considere-se o meu amigo e vizinho Wayne, doutorado em ciência informática pela Universidade de Berkeley e veterano de muitos trabalhos de programação em grande escala. Sei muito sobre ele por sermos amigos. Sei mais ainda por sermos amigos Facebook. No seu perfil online, não apenas encontro a informação pessoal tipo blogue — a sua data de nascimento, endereço, currículo e fotografias da sua mulher, filho e enteados. Descubro também que gosta de fazer cerveja, que na semana passada jantou num dos meus restaurantes preferidos, e que gosta de ver desenhos animados. De facto, publicou posts sobre a sua vida quase diariamente nos últimos dois meses — matutando sobre se irá chover no jogo de futebol infantil do filho, perguntando aos amigos qual a função do impelidor na sua unidade de aquecimento central.
Mas se eu digitar o seu nome no Google, fico a saber muito pouco. Sou direccionado para um seu antigo Web site pessoal, com links que expiraram quase todos, e uma recolha de monografias sobre ciência informática que escreveu ao longo dos anos. É mais ou menos isso. Praticamente nenhuma informação Facebook sobre Wayne surge numa pesquisa Google porque toda ela, bem como detalhes semelhantes sobre os outros utilizadores Facebook, existe nos cerca de 40.000 servidores da rede social. No seu conjunto, estes dados compreendem uma quantidade mastodónica de actividade, quase uma segunda Internet. Pelas estimativas da Facebook, cada mês os utilizadores partilham 4 mil milhões de peças de informação — notícias, actualizações de estado, votos de aniversário e por aí fora. Também carregam 850 milhões de fotografias e 8 milhões de vídeos. Mas quem quiser aceder a esse material deve usar o Facebook; a rede social trata tudo isso enquanto dados exclusivos, em grande medida ocultando-os dos crawlers [algoritmos de pesquisa] da Google. À excepção da informação mais superficial que os utilizadores escolhem tornar pública, o que acontece nos servidores da Facebook mantém-se nos servidores da Facebook. Isso representa um ponto cego, maciço e em rápido crescimento, para a Google, cujo objectivo há muito expresso é "organizar a informação do mundo" (…)
— Fred Vogelstein, in "The Great Wall of Facebook", publicado em Brainwaving
(…) a rivalidade Google-Facebook não apenas se mantém intensa, ela evoluiu para uma batalha em grande escala sobre o futuro da Internet — a sua estrutura, design e utilidade. No decurso da última década, a Web foi definida pelos algoritmos da Google — equações rigorosas e eficientes que analisam praticamente cada byte de actividade online, de modo a construir um desapaixonado atlas do mundo online. Mark Zuckerberg, o presidente da Facebook, imagina uma Web mais personalizada e humanizada, onde a nossa rede de amigos, colegas, pares e familiares é a nossa fonte primária de informação, exactamente tal como é offline. Na visão de Zuckerberg, os utilizadores inquirirão este "gráfico social" para encontrar um médico, a melhor câmara fotográfica ou alguém para contratar — em vez de recorrerem à matemática fria de uma pesquisa Google. É um repensar completo do modo como navegamos no mundo online, que coloca a Facebook mesmo no centro. Por outras palavras, onde está agora a Google. (…)
Para compreendeer o desafio que a Facebook lança à Google, considere-se o meu amigo e vizinho Wayne, doutorado em ciência informática pela Universidade de Berkeley e veterano de muitos trabalhos de programação em grande escala. Sei muito sobre ele por sermos amigos. Sei mais ainda por sermos amigos Facebook. No seu perfil online, não apenas encontro a informação pessoal tipo blogue — a sua data de nascimento, endereço, currículo e fotografias da sua mulher, filho e enteados. Descubro também que gosta de fazer cerveja, que na semana passada jantou num dos meus restaurantes preferidos, e que gosta de ver desenhos animados. De facto, publicou posts sobre a sua vida quase diariamente nos últimos dois meses — matutando sobre se irá chover no jogo de futebol infantil do filho, perguntando aos amigos qual a função do impelidor na sua unidade de aquecimento central.
Mas se eu digitar o seu nome no Google, fico a saber muito pouco. Sou direccionado para um seu antigo Web site pessoal, com links que expiraram quase todos, e uma recolha de monografias sobre ciência informática que escreveu ao longo dos anos. É mais ou menos isso. Praticamente nenhuma informação Facebook sobre Wayne surge numa pesquisa Google porque toda ela, bem como detalhes semelhantes sobre os outros utilizadores Facebook, existe nos cerca de 40.000 servidores da rede social. No seu conjunto, estes dados compreendem uma quantidade mastodónica de actividade, quase uma segunda Internet. Pelas estimativas da Facebook, cada mês os utilizadores partilham 4 mil milhões de peças de informação — notícias, actualizações de estado, votos de aniversário e por aí fora. Também carregam 850 milhões de fotografias e 8 milhões de vídeos. Mas quem quiser aceder a esse material deve usar o Facebook; a rede social trata tudo isso enquanto dados exclusivos, em grande medida ocultando-os dos crawlers [algoritmos de pesquisa] da Google. À excepção da informação mais superficial que os utilizadores escolhem tornar pública, o que acontece nos servidores da Facebook mantém-se nos servidores da Facebook. Isso representa um ponto cego, maciço e em rápido crescimento, para a Google, cujo objectivo há muito expresso é "organizar a informação do mundo" (…)
— Fred Vogelstein, in "The Great Wall of Facebook", publicado em Brainwaving
Etiquetas:
facebook,
google,
internet,
rede social
"Pondo em Prática a Ciência da Felicidade"
[excerto de artigo]
(…) Um país que leva a felicidade muito a sério é o Butão, o pequeno reino dos Himalaias que foi o anfitrião, em 1972, da primeira Conferência Nacional sobre Felicidade Bruta. À época, o rei do Butão proclamou que "a Felicidade Interna Bruta é mais importante do que o Produto Interno Bruto".
Desde então, o Butão consagrou o conceito constitucionalmente e procurou formas de o aplicar e medir. Karma Ura, o director butanês do Centro de Estudos Butaneses e orador da conferência, explicou que, com o tempo, os butaneses identificaram nove aspectos relevantes para as análises da felicidade. Estes incluem: o bem-estar psicológico; a boa saúde; a utilização do tempo (equilíbrio trabalho-lazer); a vitalidade da comunidade; a educação; a preservação cultural; a protecção ambiental; a boa governação; e a segurança financeira.
Eles desenvolveram questionários, usados em sondagens regulares do povo butanês, através das quais avaliam a satisfação com a vida em cada uma destas áreas. Incluídas estão perguntas tais como: Quão seguro se sente de danos causados por outrem? Raramente? Geralmente? Sempre?
O Butão usa então os resultados dos seus questionários para orientar a política pública. Cada decisão governamental é baseada na garantia de que não diminuirá — e de facto deveria aumentar — a satisfação com a vida em geral. Uma destas análises levou o governo do Butão a decidir não aderir à Organização Mundial do Comércio.
A investigação, os parâmetros e os resultados do Butão podem encontrar-se no seu excelente website. Apesar do país ser um dos mais pobres do mundo em termos materiais, os butaneses têm um elevado grau de Felicidade Interna Bruta, em especial nas zonas rurais, e em especial quando comparada com os recursos que consomem. (…)
— John de Graaf, in "Putting the Science of Happiness Into Practice", publicado em Yes Magazine
(…) Um país que leva a felicidade muito a sério é o Butão, o pequeno reino dos Himalaias que foi o anfitrião, em 1972, da primeira Conferência Nacional sobre Felicidade Bruta. À época, o rei do Butão proclamou que "a Felicidade Interna Bruta é mais importante do que o Produto Interno Bruto".
Desde então, o Butão consagrou o conceito constitucionalmente e procurou formas de o aplicar e medir. Karma Ura, o director butanês do Centro de Estudos Butaneses e orador da conferência, explicou que, com o tempo, os butaneses identificaram nove aspectos relevantes para as análises da felicidade. Estes incluem: o bem-estar psicológico; a boa saúde; a utilização do tempo (equilíbrio trabalho-lazer); a vitalidade da comunidade; a educação; a preservação cultural; a protecção ambiental; a boa governação; e a segurança financeira.
Eles desenvolveram questionários, usados em sondagens regulares do povo butanês, através das quais avaliam a satisfação com a vida em cada uma destas áreas. Incluídas estão perguntas tais como: Quão seguro se sente de danos causados por outrem? Raramente? Geralmente? Sempre?
O Butão usa então os resultados dos seus questionários para orientar a política pública. Cada decisão governamental é baseada na garantia de que não diminuirá — e de facto deveria aumentar — a satisfação com a vida em geral. Uma destas análises levou o governo do Butão a decidir não aderir à Organização Mundial do Comércio.
A investigação, os parâmetros e os resultados do Butão podem encontrar-se no seu excelente website. Apesar do país ser um dos mais pobres do mundo em termos materiais, os butaneses têm um elevado grau de Felicidade Interna Bruta, em especial nas zonas rurais, e em especial quando comparada com os recursos que consomem. (…)
— John de Graaf, in "Putting the Science of Happiness Into Practice", publicado em Yes Magazine
Subscrever:
Mensagens (Atom)